Tentativa de defloramento
Ofício expedido ao comandante do distrito de Simão Pereira relatando que Marcelino da Costa, crioulo forro, encontra-se preso na cadeia por ter tentado deflorar a filha de Gerarda Maria.
Conjunto documental: Registro de ofícios expedidos da Polícia para o governo das armas da Corte, Marinha e mais patentes militares e ordenanças
Notação: cód. 326, vol. 3
Datas-limite: 1818-1822
Título do fundo: Polícia da Corte
Código do fundo: ØE
Argumento de pesquisa: criminalidade
Data do documento: 29 de janeiro de 1816
Local: Simão Pereira
Folha(s): 14v
Registro de outro ao mesmo ministro
Pela defloração com violência[1], que pretendia fazer Marcelino da Costa crioulo forro[2], preso na cadeia[3], em uma filha de Gerarda Maria, e [que] consta da parte inclusa por cópia, proceda Vossa Mercê ao processo, que competir, e mandará ao preso digo mandará abrir ao preso assento à sua ordem e deve ouvir a queixosa para formalizar a queixa judicialmente. Deus Guarde a Vossa Mercê. Rio 29 de janeiro de 1816 = Paulo Fernandes Viana[4] = Senhor [Desembargador] Juiz do Crime[5] do bairro da Sé[6].
[1] Até ao menos a metade do século XX, a virgindade das mulheres tinha um valor especial na sociedade, sendo elemento indicativo de honra, da mulher e de sua família, sobretudo das ricas famílias patriarcais, e de certa forma, moeda de troca para a realização de bons casamentos entre iguais. Em uma sociedade na qual o poder pátrio determinava o destino das filhas que, depois de casadas, passavam para a “posse” do marido, as fronteiras entre o que era consentido e o excesso de violência também eram precárias. Havia uma diferenciação não explícita entre estupro e defloramento, no qual o primeiro envolvia formas de coação violenta e no segundo mais uma persuasão, fosse por sentimentos ou promessas. Na prática, os casos de defloramento muitas vezes envolviam agressão física contra a mulher e o seu não-consentimento no ato sexual. Os crimes de sedução e desonra já estavam previstos desde as Ordenações Afonsinas (1446-1448), mas foram consideravelmente aprimorados nas Ordenações Manuelinas (1512-1603) e Filipinas (1595), que estabeleciam punições mais duras e tratavam menos as mulheres como culpadas ou aliciadoras dos agressores. Não custa reforçar que as leis eram aplicadas entre iguais. Homens de posições sociais e cor diferentes não teriam as mesmas punições, os fidalgos, quase sempre, eram punidos com degredo, prisão e indenizações, já aos comuns, à plebe, ficavam reservadas as penas mais graves que incluíam a de morte. Uma questão frequentemente mencionada para os crimes de defloramento trata sobre o casamento do agressor com as ofendidas, “solução” para o crime que acabava com a ofensa e suspendia automaticamente as penas, o que não era sempre o caso, ao menos entre as famílias da boa sociedade colonial. Tanto os pais quanto as próprias mulheres deveriam concordar com o casamento, o que frequentemente ocorria, caso o candidato a noivo fosse homem de nascimento e posses inferiores às da possível noiva. Quando havia o casamento, era preciso que o pai concordasse com a suspensão da pena, o que poderia não acontecer. Nos casos de não haver casamento, ficava o agressor, além de sujeito às punições já mencionadas, obrigado a custear o casamento da mulher agredida e pagar uma espécie de indenização pela perda da virgindade, o que se chamava “demandar a virgindade”. A família agredida precisaria solicitar tal indenização, que teria o efeito de eliminar a mancha da honra da família e tornar a moça novamente “de qualidade” para um bom casamento. No Brasil, o crime de sedução e defloramento passou a ser tratado como estupro somente no Código Criminal de 1890 e no Civil de 1916, embora as punições continuassem a existir também no Código Criminal de 1830.
[2] Eram considerados forros os ex-escravizados que haviam obtido a alforria, por meio de uma carta, por testamento ou no momento do batismo. Até a segunda metade do século XVII encontra-se a expressão “índio forro” com o sentido de libertar gentio como eram chamados os indígenas da suposta barbárie em que viviam, pela ótica cristã. Para Eduardo França Paiva, as alforrias são um componente da escravidão e já no mundo antigo eram praticadas com frequência. Alforria, como lembra esse autor, é um termo de origem árabe e equivale a libertar. Mas no mundo romano as libertações de escravos já ocorriam com frequência, chamadas de manumissões. Entre os ibéricos, com a escravidão introduzida no Novo Mundo, os forros ou resgatados foram sua imediata contrapartida. A ideia de resgate era bem conhecida dos portugueses que haviam tido que resgatar cristãos cativos no Norte da África. A partir do século XVII o aumento de africanos escravizados na América portuguesa provocou também a quantidade e variedade de tipos de alforrias, compradas, obtidas por negociação entre senhor e escravo, prometidas. A área das minas foi um catalizador para entrada de um imenso contingente de escravos no Brasil e fez surgir outra configuração social, com vilas e arraiais nos quais a maioria era de escravos, forros e nascidos livres. Ao final do setecentos torna-se comum que libertos passassem a possuir escravos, que da mesma forma lograram ser alforriados dentro da mesma lógica dos seus proprietários forros. Mas, como conclui França, a ascensão desses forros não apagava o seu passado naquela sociedade escravista. A combinação do nome com a categoria imposta e a condição jurídica acompanhava os “pretos forros” ou “mulato forro” até que acabasse por se dissipar. (Cf. FRANÇA, E. O. Alforria. In: GOMES, F., SCHWARCZ, Lilia M. Dicionário da escravidão e liberdade, 2018)
[3] O sistema prisional, baseado no encarceramento diferenciado e delimitado por penas variáveis, aparece no mundo contemporâneo (ou, pelo menos, na maior parte dele) como concretização de sanções impostas a indivíduos que quebram as regras estabelecidas. Na realidade, a privação da liberdade e o isolamento como punição em si – e também reeducação – surgiu na Europa. Não há registros na Antiguidade, por exemplo, do uso punitivo do encarceramento, utilizado na época como detenção temporária do suspeito até que a punição final fosse imposta, após julgamento. O banimento, a infâmia, a mutilação, a morte e a expropriação eram as penas mais recorrentes. Na Idade Média, o cenário era semelhante. O crescimento populacional, a urbanização e as graves crises de fome que marcaram a Idade Moderna resultaram em aumento de criminalidade e em revolta social, movimentos estes que, às vezes, se sobrepunham. Diante dessa situação, as penas cruéis e a própria pena de morte, aplicadas em público, utilizadas na Idade Média em resposta a crimes frívolos (roubar um pão, ofender o senhorio, blasfemar), deixaram de ser adequadas, posto que poderiam facilmente causar um levante popular. Além disso, cada vez mais se considerava o espetáculo bizarro das punições públicas uma afronta ao racionalismo e ao humanismo que marcaram o século XVIII. Se no Antigo Regime o sistema penal se baseava mais na ideia de castigo do que na recuperação do preso, no século XVIII se intensificam as tentativas, esboçadas no século anterior, de transformar as velhas masmorras, cárceres e enxovias infectas e desordenadas, onde se amontoavam criminosos, em centros de correção de delinquentes. Em boa parte do mundo, entretanto, tais ideias demorariam a sair do papel. No Brasil, no início do século XIX, muitas fortalezas funcionaram como prisões para corsários, amotinados e, algumas vezes, para criminosos comuns. Na maior parte do vasto território da colônia, as cadeias eram administradas pelas câmaras municipais e, geralmente, localizavam-se ao rés do chão das mesmas, ou nos palácios de governo. A tortura, meio de obtenção de informações conforme previsto pelas Ordenações Filipinas, era utilizada tanto em casos de prisão por motivos religiosos, quanto em prisioneiros comuns. As cadeias não passavam de infectos depósitos de pessoas do todo o tipo: desde pessoas livres, já condenadas ou sofrendo processo, até suspeitos de serem escravos fugidos, prostitutas, indígenas, loucos, vagabundos. Proprietários, homens ricos e influentes e funcionários da Coroa permaneciam em um ambiente separado. Para os escravos, havia uma cadeia denominada Calabouço, embora também fossem encerrados em outros estabelecimentos.
[4] Nascido no Rio de Janeiro, Paulo Fernandes Viana era filho de Lourenço Fernandes Viana, comerciante de grosso trato, e de Maria do Loreto Nascente. Casou-se com Luiza Rosa Carneiro da Costa, da eminente família Carneiro Leão, proprietária de terras e escravos que teve grande importância na política do país já independente. Formou-se em Leis em Coimbra em 1778, onde exerceu primeiro a magistratura, e no final do Setecentos foi intendente do ouro em Sabará. Desembargador da Relação do Rio de Janeiro (1800) e depois do Porto (1804), e ouvidor-geral do crime da Corte foi nomeado intendente geral da Polícia da Corte pelo alvará de 10 de maio de 1808. De acordo com o alvará, o intendente da Polícia da Corte do Brasil possuía jurisdição ampla e ilimitada, estando a ele submetidos os ministros criminais e cíveis. Exercendo este cargo durante doze anos, atuou como uma espécie de ministro da ordem e segurança pública. Durante as guerras napoleônicas, dispensou atenção especial à censura de livros e impressos, com o intuito de impedir a circulação dos textos de conteúdo revolucionário. Tinha sob seu controle todos os órgãos policiais do Brasil, inclusive ouvidores gerais, alcaides maiores e menores, corregedores, inquiridores, meirinhos e capitães de estradas e assaltos. Foi durante a sua gestão que ocorreu a organização da Guarda Real da Polícia da Corte em 1809, destinada à vigilância policial da cidade do Rio de Janeiro. Passado o período de maior preocupação com a influência dos estrangeiros e suas ideias, Fernandes Viana passou a se ocupar intensamente com policiamento das ruas do Rio de Janeiro, intensificando as rondas nos bairros, em conjunto com os juízes do crime, buscando controlar a ação de assaltantes. Além disso, obrigava moradores que apresentavam comportamento desordeiro ou conflituoso a assinarem termos de bem viver – mecanismo legal, produzido pelo Estado brasileiro como forma de controle social, esses termos poderiam ser por embriaguez, prostituição, irregularidade de conduta, vadiagem, entre outros. Perseguiu intensamente os desordeiros de uma forma geral, e os negros e os pardos em particular, pelas práticas de jogos de casquinha a capoeiragem, pelos ajuntamentos em tavernas e pelas brigas nas quais estavam envolvidos. Fernandes Viana foi destituído do cargo em fevereiro de 1821, por ocasião do movimento constitucional no Rio de Janeiro que via no intendente um representante do despotismo e do servilismo colonial contra o qual lutavam. Quando a Corte partiu de volta para Portugal, Viana ficou no país e morreu em maio desse mesmo ano. Foi comendador da Ordem de Cristo e da Ordem da Conceição de Vila Viçosa, seu filho, de mesmo nome, foi agraciado com o título de barão de São Simão.
[5] Atribuição dada ao magistrado com competências semelhantes às do juiz de fora, mas restritas à esfera criminal. A ele, como aos juízes de fora, cabia realizar devassas sobre crimes acontecidos nos bairros (ou cidades) de sua jurisdição, visando a solucioná-los e a prender os culpados; executar as sentenças estabelecidas pelo intendente geral de Polícia da Corte e, especificamente no Brasil, cobrar as décimas – impostos pagos pelos proprietários de prédios urbanos. Os juízes do crime que atuavam no Brasil seguiam o regimento dos ministros criminais de Lisboa, cujas atribuições eram as mesmas. Com a chegada da corte, d. João criou mais postos de juiz do crime (alvará de 27 de junho de 1808), principalmente para o Rio de Janeiro, prevendo um incremento da criminalidade em decorrência do brusco e significativo aumento populacional que a cidade sofrera com o desembarque da família real e da corte, pretendendo incrementar a “segurança e a tranquilidade de seus vassalos”. Cada juiz do crime respondia por um bairro ou freguesia, como a da Candelária, da Sé, de São José e de Santa Rita, por exemplo.
[6] Freguesia que compreendia a região ao redor da Igreja de Nossa Senhora do Carmo no Rio de Janeiro e limitava-se com o bairro de São José. Construída em 1570 em cumprimento a uma promessa, a Capela de Nossa Senhora da Expectação e do Parto foi doada pela Câmara, em 1589, aos carmelitas, que iniciaram a construção da atual igreja em 1761 – a sagração deu-se em 1770. Em 1808, com a chegada da família real, a Igreja foi convertida em Capela Real (mesmo que ainda incompletas as obras da fachada). No convento anexo foi instalada a rainha d. Maria I e suas damas, e outros órgãos, como a Ucharia Real e a Real Biblioteca. A Capela Real foi palco da sagração de d. João VI em 1818 e do casamento de d. Pedro com d. Leopoldina em 1817, dentre outros importantes eventos. Somente durante o primeiro reinado, já então denominada Capela Imperial, foram finalizadas as obras. Foi sede episcopal durante todo o Império e parte do período republicano. Em 1977 uma nova Catedral Metropolitana foi concluída. A partir de então passou a ser conhecida como a Antiga Sé (ou Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé).
Preso por atentar contra a mulher
Ofício expedido pelo sargento-mor das ordenanças Joaquim Anselmo de Sousa remetendo o preso José Florêncio, alfaiate da freguesia de São Marcos, que havia sido preso por ter cometido atos de violência utilizando-se de uma tesoura contra sua mulher Isabel Maria de Jesus, que estava em “miserável estado”. O sargento remetia a tesoura e uma certidão do cirurgião-mor presente, João Lopes Pinheiro, assinada por outras testemunhas que atestava o estado em que estava a mulher depois dos procedimentos daquele “horroroso monstro de crueldade”. A mulher o havia relatado todos os tormentos que sofreu, inclusive os impostos a uma “mulatinha sua escrava”, que também demonstrava ter sofrido abusos.
Conjunto documental: Capitania do Rio de Janeiro
Notação: caixa 746, pct. 1
Datas-limite: 1700-1808
Título do fundo: Vice-reinado
Código do fundo: D9
Argumento de pesquisa: criminalidade
Data do documento: 20 de setembro de 1802
Local: Freguesia de São Marcos
Folha(s): -
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor ponho na [sua] respeitável presença de Vossa Excelência o preso José Florêncio oficial de alfaiate morador nesta freguesia[1], casado com Isabel Maria de Jesus o qual foi preso a ordem de Vossa Excelência pelo cabo de esquadra de cavalaria do distrito da Freguesia Antônio Ferreira Gonçalves e me remeteu com a parte, que juntamente [ofereço] a essa tesoura apontada e que tudo o [remetê-lo] na forma de roubo.
Para autenticar esse delito à vista de miserável estado em que vi a mulher do dito preso [...], mandei chamar cinco homens de probidade, além de outros que se acharam presentes e com o cirurgião-mor[2] João Lopes Pinheiro observaram os tiranos[3] tratamentos praticados pelo delinquente e dos seus ditos assinaturas e certidão do cirurgião, que inclusos remeto a Vossa Excelência se vê o procedimento enorme deste horroroso monstro de crueldade.
Em mesma presença Excelentíssimo Senhor se observou este espetáculo as desumanidade e dele se conhece e pela confissão da mulher e escrava[4] que o delinquente praticou com ela diversas e repetidas invenções de tiranias impróprias de um humano além das que calo por decência as quais todas sofreu, e suportou em todo o tempo sem se queixar, ocultando por honra sua o seu tormento sendo constante a todo o povo a sua inocência honra e boa conduta com que sempre se tem portado no estado de solteira e depois de casada.
Quase os mesmos procedimentos praticou com uma mulatinha[5] sua escrava que também me foi apresentada e se observou do mesmo modo.
A vista do expendido Vossa Excelência mandará o que servido.
Deus Guarde Vossa Excelência por muitos anos Freguesia de São Marcos vinte de setembro de mil oitocentos e dois.
De Vossa Excelência e Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Muito atento sobre isto. Joaquim Anselmo de Sousa sargento-mor das ordenanças.
Está conforme
Doutor Manoel de Jesus Valdetaro
[1] Em Portugal, as divisões administrativas das províncias estavam organizadas de acordo com a seguinte escala: cidades, vilas, freguesias e aldeias. Cada freguesia possuía uma situação jurídica própria, podendo ser de primeira, segunda ou terceira ordem. A freguesia de primeira ordem agrupava mais de 5.000 pessoas. As de segunda ordem, entre 800 e 5.000, e as de terceira ordem, menos de 800 pessoas. Em cada freguesia havia um regedor que era o representante da autoridade municipal e diretamente dependente do presidente da câmara municipal. O termo paróquia era utilizado como sinônimo de freguesia, na esfera eclesiástica, portanto fregueses, neste caso, são os membros de uma paróquia.
[2] No século XVI a legislação do Reino especificava os limites da atuação do físico-mor e do cirurgião-mor, determinando que aos cirurgiões fosse vedado atuar como médicos sem a licença do físicomor. Por outro lado, proibia aos físicos o exercício da cirurgia, sem a devida licença do cirurgião-mor, equiparando, portanto, as duas autoridades, a despeito da prevalência em todos os campos, do físico sobre o cirurgião. Como explicou Flavio Edler (A saúde pública no período colonial e joanino. http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5120:saude-e-higiene-publica-na-ordem-colonial-e-joanina&catid=64&Itemid=372), a exigência para que o físico-mor do reino examinasse todos os que praticavam medicina existia desde 1430, sendo de 1448 o Regimento do Cirurgião-mor que estabeleceu as atribuições para o exercício da função. O físico-mor e o cirurgião-mor tiveram suas atribuições separadas em 1521, destacando-se o papel do físico-mor como juiz da Fisicatura, um tribunal, ainda de acordo com Edler. Quase um século depois, o regimento do Cirurgião-Mor do reino, de 12 de dezembro de 1631, dispunha que este examinaria todos os que fossem exercer o oficio de cirurgia, exigindo-se o domínio do latim e a prática no hospital da região em que viviam. O cirurgião-mor contava com dois barbeiros para examinar os sangradores treinados pelos mestres-cirurgiões. Data de 16 de maio de 1774 o regimento de autoria do físico-mor do reino e que pautava a conduta dos físicos na América portuguesa. Em 1808, o Alvará de 23 de novembro mandou executar os Regimentos do Físico Mor e Cirurgião Mor, regular a sua jurisdição e de seus Delegados, aludindo ao Decreto de 7 de fevereiro do mesmo ano que havia criado o Físico Mor e o Cirurgião Mor do Reino, Estados e Domínios Ultramarinos. A regulamentação é justificada face aos conflitos entre o Físico Mor e a Relação da Bahia. A legislação anterior, desde 1515, bem como o regimento de 1744 é mantida em vigor a exceção do que tivesse sido abolido. Já o Alvará de 22 de janeiro de 1810 que dava “regimento aos delegados do Físico-Mor” estabelecendo providências sobre a saúde pública, considerou que o Regimento de 1744 “por diminuto e porque tendo sido feito em tempos remotos não pode quadrar ao presente". O primeiro físico-mor no Brasil foi José Corrêa Picanço, professor de Anatomia e Cirurgia da Universidade de Coimbra, primeiro cirurgião da Casa Real e cirurgião-mor do Reino. Após a Independência a Lei de 30 de agosto de 1828 extingue os lugares de Provedor-mor, Físico-mor e cirurgião-mor do Império passando as suas competências às Câmaras Municipais e Justiças ordinárias.
[3] O conceito de tirania nasceu na Grécia, designando, sobretudo, o poder exercido sem legitimidade. Para o filósofo Platão (427 A.E.C. - 347 A.E.C.), seria o governo de um só, o tirano, que reina ou governa não segundo a vontade dos cidadãos, mas apoiado apenas em seu próprio arbítrio. Já Aristóteles (384 A.E.C.-322 A.E.C.), definiu a tirania como uma forma impura e corrompida da monarquia, onde o tirano governa para os que estão no poder e não para o povo (Melillo Moreira de Melo. Tipologia clássica dos sistemas políticos. Revista de Ciência Política. FGV, 1979). No período moderno, o tirano é entendido como uma figura despótica, que usurpa o poder e o exerce de forma absoluta. Segundo Rafael Bluteau, em seu Diccionario da língua portuguesa, tirano seria o “príncipe que é único e despótico; o que usurpou o governo (...). O que governa mal, contra as leis, privando arbitrariamente os seus vassalos dos bens, da liberdade civil, das vidas e honras” (Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789).
[4] Pessoas cativas, desprovidas de direitos, sujeitas a um senhor, como propriedades dele. Embora a escravidão na Europa existisse desde a Antiguidade, durante a Idade Média ela recuou para um estado residual. Com a expansão ultramarina, no século XV, revigorou-se, mas adquiriu contornos bem diferentes e proporções muito maiores. No mundo moderno, um grupo humano específico, que traria na pele os sinais de uma inferioridade na alma estaria destinado à escravidão. Diferentemente da escravidão greco-romana, onde certos indivíduos eram passíveis de serem escravizados, seja através da guerra ou por dívidas, o sistema escravocrata moderno era mais radical, onde a escravidão passa a ser vista como uma diferença coletiva, assinalada pela cor da pele, nas palavras do historiador José d'Assunção Barros, “um grupo humano específico traria na cor da pele os sinais de inferioridade” (“A Construção Social da Cor - Desigualdade e Diferença na construção e desconstrução do Escravismo Colonial. XIII Encontro de História da Anpuh-Rio, 2008). Muitos foram os esforços no sentido de construir uma diferenciação negra, buscando no discurso bíblico, justificativas para a escravidão africana. No Brasil, de início, utilizou-se a captura de nativos para formar o contingente de mão de obra escrava necessária a colonização do território. Por diversos motivos – lucro com a implantação de um comércio de escravos importados da África; dificuldade em forçar o trabalho do homem indígena na agricultura; morte e fuga de grande parte dos nativos para áreas do interior ainda inacessíveis aos europeus – a escravidão africana começou a suplantar a indígena em número e importância econômica quando do início da atividade açucareira em grande extensão do litoral brasileiro. Apesar disso, a escravidão indígena perduraria por bastante tempo ainda, marcando a vida em pontos da colônia mais distantes da costa e em atividades menos extensivas. O desenvolvimento comercial no Atlântico gerou, por três séculos, a transferência de um vasto contingente de africanos feitos escravos para a América. A primeira movimentação do tráfico de escravos se fez para a metrópole, em 1441, ampliando-se de tal modo que, no ano de 1448, mais de mil africanos tinham chegado a Portugal, uma contagem que aumentou durante todo o século XV. Tal comércio foi um dos empreendimentos mais lucrativos de Portugal e outras nações europeias. Os negros cativos eram negociados internacionalmente pelos europeus, mas estes, poucas vezes, tomavam para si a tarefa de captura dos indivíduos. Uma vez que o aprisionamento de inimigos e sua redução ao estado servil eram práticas anteriores ao estabelecimento de rotas comerciais ultramarinas, em geral consequência de guerras e conflitos entre diferentes reinos ou tribos, os comerciantes passaram a trocar estes prisioneiros por produtos de interesse dos grandes líderes locais (os potentados) e por apoio militar nos conflitos locais. Embora a escravização de inimigos fosse uma prática anterior à chegada dos europeus, deve-se salientar que o estatuto do escravo na África era completamente diferente daquele que possuía o escravo apreendido e vendido para trabalho nas Américas. Nos reinos africanos, a condição não era indefinida e nem hereditária, e senhores chegavam a se casar com escravas, assumindo seus filhos. O comércio com os europeus transformou os homens e sua descendência em mercadoria sem vontade, objeto de negociação mercantil. Os europeus passaram a instigar guerras e conflitos locais, de forma a aumentar a captura de possíveis escravos, desintegrando a antiga estrutura econômica e social dos reinos africanos. A produção historiográfica sobre a escravidão vem crescendo nos últimos anos, não só escravismo colonial, mas também o comércio de cativos para a própria Europa, sobretudo na bacia mediterrânea, têm sido estudados. A presença de escravos negros em Portugal tornar-se-ia uma constante no campo mas, sobretudo, nas cidades e vilas, onde podiam trabalhar em obras públicas, nos portos (carregadores), nas galés, como escravos de ganhos e domésticos, entre outros. No século XV, os negros africanos já tinham suas habilidades reconhecidas tanto em Portugal quanto nas ilhas atlânticas (arquipélagos de Madeira e Açores). Localizadas estrategicamente e com solo de origem vulcânica, logo foi implantado um sistema de colonização assentado na exploração de bens primários, como o açúcar. A escravidão foi um dos alicerces essenciais do sucesso desse empreendimento, que acabou sendo transferido para o Brasil, quando essa colônia se mostrou economicamente vantajosa. Dessa forma, no litoral da América portuguesa logo seria implantado o sistema de plantation açucareiro, com a introdução da mão de obra africana. E, ao longo do processo de colonização luso, o trabalho escravo tornou-se a base da economia colonial, presente nas mais diversas atividades, tanto no campo quanto nas cidades. Uma das peculiaridades da escravidão nesse período é representada pelos altos gastos dos proprietários com a mão de obra, muitas vezes mais cara do que a terra. Iniciar uma atividade de lucro demandava um alto investimento inicial em mão de obra, caso se esperasse certeza de retorno. A escravidão e a situação do escravo variavam, dentro de determinados limites, de atividade para atividade e de local para local. Mas de uma forma geral, predominavam os homens, já que o tráfico continuou suas atividades intensamente pois, ao contrário do que ocorria na América inglesa, por exemplo, houve pouco crescimento endógeno entre a população escrava na América portuguesa. Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco foram os principais centros importadores de escravos africanos do Brasil. Além de formarem a esmagadora maioria da mão de obra nas lavouras, nas minas, nos campos, e de ganharem o sustento dos senhores menos abastados realizando serviços nas ruas das vilas e cidades (escravos de ganho), preenchendo importantes nichos da economia colonial, os escravos negros também eram recrutados para lutar em combates. A carta régia de 22 de março de 1766, pela qual d. José I ordenou o alistamento da população, inclusive de pardos e negros para comporem as tropas de defesa, fez intensificar o número dessa parcela da população nos corpos militares. Ingressar nas milícias era um meio de ascensão social, tanto para o negro escravo quanto para o forro. A escravidão é um tema clássico da historiografia brasileira e ainda bastante aberto a novas abordagens e releituras. A perspectiva clássica em torno do tema é a do “cativeiro brando” e o caráter benevolente e não violento da escravidão brasileira, proposta por Gilberto Freyre em Casa Grande e senzala no início da década de 1930. Contestações a essa visão surgem na segunda metade do século XX, nomes como Florestan Fernandes, Emília Viotti, Clóvis Moura, entre outros, desenvolvem a ideia de “coisificação” do negro e as circunstâncias extremamente árduas em que viviam, bem como a existência de movimentos de resistência ao cativeiro, como é o caso das revoltas de escravos e a formação dos quilombos. Já perspectivas historiográficas recentes reviram essa despersonalização do escravo, considerando-o como agente histórico, com redes de sociabilidade, produções culturais e concepções próprias sobre as regras sociais vigentes e como os negros buscaram sua liberdade, contribuindo decisivamente para o fim da escravidão.
[5] No Brasil colônia, o termo mulato começou a aparecer em escritos de fins do século XVI, referindo-se à ascendência, designando o filho de homem branco com mulher negra ou de negro com branca. De acordo com os estatutos de pureza de sangue portugueses, os mulatos eram considerados uma "raça infecta", sendo-lhes vetado o acesso a determinados cargos públicos e títulos de nobreza. A despeito disto, muitos conseguiram assumir postos de proeminência no Brasil colonial e conquistaram títulos nobiliárquicos. Com o tempo, o termo mulato passou a ser associado à cor, identificando aqueles cujo tom de pele estaria entre o negro e o branco. Enquanto o termo pardo, por sua vez, era privilegiado na documentação oficial, a categoria “mulato” assumia frequentemente uma conotação pejorativa, sendo associada a características negativas, como indolência, arrogância e desonestidade. As mulatas eram relacionadas à lascívia, ou seja, com considerada propensão a luxúria sendo, por isso, tidas como um risco à fidelidade conjugal da família branca. Não podiam, também, alcançar a estima social garantida às mulheres ditas honradas através do casamento legítimo, já que esse lhes era vetado. Elo entre as duas posições mais antagônicas da sociedade colonial, muitas vezes, resultante de relações extraconjugais entre senhores e escravas, o mulato era visto como uma ameaça à ordem senhorial escravista da qual era produto. Mesmo quando livres ou forros, os mulatos carregavam o estigma da escravidão. Não tinham direitos filiais, embora estivessem mais aptos que os negros de dispor de favores pelo seu parentesco com o senhor branco, daí a expressão utilizada no período colonial de que alguns senhores se deixavam “governar por mulatos”. A visão desabonadora a respeito dos mulatos, provavelmente deita raízes nessas “facilidades” provindas de sua origem paterna, por exemplo, na compra e concessão de alforrias colocando em questão o princípio do partus sequitur ventrem, que previa a hereditariedade do cativeiro, embora existissem exceções e, alguns conseguissem, inclusive, tomar parte nas heranças familiares.
Pedido de suspensão de degredo
Requerimento de d. Maria Vitória de Magalhães, por meio de procurador, pedindo à rainha a mercê de suspender o degredo que foi imposto a ela e sua família, de deixar Belém do Pará para viver na Vila de São José do Macapá, por “tirania, e despotismo” do governador do Estado do Grão-Pará, José de Nápoles Telo de Menezes e de seu sobrinho e segundo ajudante de ordens, Manuel Cabral Coutinho de Nápoles. A senhora afirma que havia recebido a menina Rosalina (“maior de doze anos”), que lhe foi entregue pelo pai, tenente de infantaria do Estado, ora falecido, para ser criada como sua própria filha, cuidando de sua educação, de suas virtudes e honra, como vinha fazendo até então. O sobrinho do governador desejava “corromper o honrado coração” da moça, seduzindo-a com passeios e promessas. Não conseguindo o que queria, resolveu, com outros dois cúmplices invadir a casa da suplicante em dia santo com o fim de “deflorar e corromper por força a donzela”. Ao acudirem aos gritos de socorro, salvou-se a “honra” da moça, mas em represália, sobrinho e tio haviam determinado o degredo de toda a família para Macapá, onde passavam apuros e prejuízos.
Conjunto documental: Correspondência original dos governadores do Pará com a Corte, cartas e anexos.
Notação: códice 99, vol. 4
Datas-limite: 1783-1783
Título do fundo: Negócios de Portugal
Código do fundo: 59
Argumento de pesquisa: criminalidade
Local: Pará
Data do documento: [1783]
Folha(s): -
Ao pé do Real Trono da Vossa Majestade[1] prostra-se D. Maria Vitória de Magalhães degredada[2] com toda sua família da cidade de Belém do Pará[3] onde era moradora, para a Vila de São José do Macapá[4] na borda setentrional do Rio das Amazonas[5], pela tirania[6], e despotismo[7] de José de Nápoles Telo de Menezes[8], e de Manoel Cabral Coutinho de Nápoles, o primeiro governador daquele Estado, e o segundo ajudante de ordens, e seu sobrinho, implorando a oprimida suplicante em seu favor a Augusta piedade de Vossa Majestade no que passa a expor: havendo a suplicante criado na sua casa, e companhia desde a inocência uma menina por nome de D. Rosalina hoje maior de doze anos, entregue aos cuidados da suplicante por Lucas José Espinosa Falqman, que passou a servir a Vossa majestade no posto de tenente de Infantaria naquele Estado, onde faleceu reconhecido geralmente pai da dita menina, concebeu por ela a suplicante o amor que lhe devia inspirar além da educação, a boa índole, prendas, virtudes, e dotes naturais em que com a idade cresceu a dita menina, a quem como se fosse sua própria filha a suplicante tratou sempre com o recolhimento honestidade, e asseio que compele a uma donzela, e filha de um homem de qualidade, [...] o referido Manoel Cabral corromper o honrado coração da dita donzela, enamorando-a, e fazendo sucessivos passeios de dia e de noite, pela porta da suplicante com todas as estratagemas [sic], e [ilegível] que eram fáceis ao grande poder do sobrinho do respectivo governador, e ao jogo de suas notórias paixões; como porém as suas libidinosas tentativas achassem sempre resistência no constante espírito, e nobre peito da dita donzela; se resolveu o mesmo libidinoso pretendente na noite de quinta-feira de endoenças do ano passado, sem que ao menos o sagrado do dia fizesse respeito ao seu malvado coração a invadir violentamente escoltado de dois sócios familiares do governador seu tio, a casa da suplicante para deflorar e corromper[9] por força a referida donzela clamaram todos vozes de Vossas Majestade neste furioso assalto, queixando-se em natural defesa, e pedindo socorro a quem lhes acudisse, com o que ficou salva a honra da dita donzela, e fugiu o agressor; o tio dele, capitão general cúmplice, e protetor das suas desordens, para o desagravar desta, logo no sagrado dia seguinte, com notório escândalo do céu, e da sua Terra, degradou a dita donzela, e a suplicante com toda a sua família para a referida Vila de São José do Macapá, fazendo-os embarcar sem perda de um momento, para o dito exílio, onde proscritos da cidade, existem sofrendo os maiores incômodos, e prejuízos.
Para Vossa Majestade senhora, e mãe de seus vassalos a Graça de restituir a suplicante, e toda sua família à cidade desoprimindo-a de tão grande vexame; e castigando exemplarmente na pessoa do governador; e seu sobrinho atrocidades, e tiranias escandalosas a DEUS, ao mundo, e todas as leis.
E.R.M
Como procurador, Baltazar Gonçalves [Álvares]
[1] Maria da Glória Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana, rainha de Portugal, sucedeu a seu pai, d. José I, no trono português em 1777. O reinado mariano, época chamada de Viradeira, foi marcado pela destituição e exílio do marquês de Pombal, muito embora se tenha dado continuidade à política regalista e laicizante da governação anterior. Externamente, foi assinalado pelos conflitos com os espanhóis nas terras americanas, resultando na perda da ilha de Santa Catarina e da colônia do Sacramento, e pela assinatura dos Tratados de Santo Ildefonso (1777) e do Pardo (1778), encerrando esta querela na América, ao ceder a região dos Sete Povos das Missões para a Espanha em troca da devolução de Santa Catarina e do Rio Grande. Este período caracterizou-se por uma maior abertura de Portugal à Ilustração, quando foi criada a Academia Real das Ciências de Lisboa, e por um incentivo ao pragmatismo inspirado nas ideias fisiocráticas — o uso das ciências para adiantamento da agricultura e da indústria de Portugal. Essa nova postura representou, ainda, um refluxo nas atividades manufatureiras no Brasil, para desenvolvimento das mesmas em Portugal, e um maior controle no comércio colonial, pelo incentivo da produção agrícola na colônia. Deste modo, o reinado de d. Maria I, ao tentar promover uma modernização do Estado, impeliu o início da crise do Antigo Sistema Colonial, e não por acaso, foi durante este período que a Conjuração Mineira (1789) ocorreu, e foi sufocada, evidenciando a necessidade de uma mudança de atitude frente a colônia. Diante do agravamento dos problemas mentais da rainha e de sua consequente impossibilidade de reger o Império português, d. João tornou-se príncipe regente de Portugal e seus domínios em 1792, obtendo o título de d. João VI com a morte da sua mãe no Brasil em 1816, quando termina oficialmente o reinado mariano.
[2] Punição prevista no corpo de leis português, o degredo era aplicado a pessoas condenadas aos mais diversos tipos de crimes pelos tribunais da Coroa ou da Inquisição. Tratava-se do envio dos infratores para as colônias ou para as galés, onde cumpririam a sentença determinada. Os menores delitos, como pequenos furtos e blasfêmias, geravam uma pena de 3 a 10 anos, e os maiores, que envolviam lesa-majestade, sodomia, falso misticismo, fabricação de moeda falsa, entre outros, eram definidos pela perpetuidade, com pena de morte se o criminoso voltasse ao país de origem. Além do aspecto jurídico, em um momento de dificuldades financeiras para Portugal, degredar criminosos, hereges e perturbadores da ordem social adquiriu funções variadas além da simples punição. Expulsá-los para as “terras de além-mar” mantinha o controle social em Portugal e, em alguns casos também, em suas colônias mais prósperas, contribuindo para o povoamento das fronteiras portuguesas e das possessões coloniais, além de aliviar a administração real com a manutenção prisional. Constituindo-se uma das formas encontradas pelas autoridades para livrar o reino de súditos indesejáveis, entre os degredados figuraram marginais, vadios, prostitutas e aqueles que se rebelassem contra a Coroa. Considerada uma das mais severas penas, o degredo só estava abaixo da pena de morte, servindo como pena alternativa designada pelo termo “morra por ello” (morra por isso). Porém o degredo também assumia este caráter de “morte civil” já que a única forma de assumir novamente alguma visibilidade social, ou voltar ao seu país, era obtendo o perdão do rei.
[3] A cidade de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará foi fundada em 1616, a partir do Forte do Presépio – também chamado Forte do Santo Cristo – mandado construir por Francisco Caldeira de Castelo Branco, capitão-mor do Rio Grande do Norte. Após participar da reconquista do Maranhão aos franceses, este recebeu a incumbência de partir com uma pequena expedição para tomar a foz do rio Amazonas e aí estabelecer uma cidade, com a finalidade de ser, ao mesmo tempo, um posto militar para conter a entrada e avanço de estrangeiros (sobretudo holandeses, ingleses e franceses) nas possessões do norte, e cabeça dessa região. Belém foi criada para ser o ponto de partida para a ocupação e controle de fronteiras do território, para expedições militares e missões religiosas, viagens de conhecimento e exploração dos recursos naturais, além de servir de entreposto comercial para a saída das valiosas drogas do sertão. Até o século XVIII, era uma cidade acanhada em termos populacionais, de extensão e urbanização, embora, desde o XVII, ocupasse uma posição de centralidade na região Amazônica e disputasse com São Luís o título de capital do Estado do Maranhão e Grão-Pará, querela que persistiu até 1751 quando, depois de idas e vindas, separações e restaurações, o Estado passou a se chamar do Grão-Pará e Maranhão, com capital em Belém. A partir da governação pombalina, foram promovidas políticas de urbanização, saneamento e higiene, com obras e ações para melhorar as feições e a salubridade da capital, frequentemente assolada por epidemias, tais como: abertura de ruas, aterramento de pântanos, construção de pontes, praças, palácios, jardins, e canalização de rios, processos que se arrastaram de fins do setecentos por todo o século XIX. O governo de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do marquês de Pombal, à frente do Estado entre 1751 e 1777, não foi o mais prolífero no setor de melhorias urbanas, pois estava orientado a cumprir as diretrizes estratégicas e econômicas impostas pela metrópole. Após a assinatura do Tratado de Madri em 1750, tornava-se premente a demarcação imediata das fronteiras com a América espanhola. A Comissão demarcadora, chefiada por Furtado, partiu de Belém em 1755 com o objetivo de estabelecer definitivamente as fronteiras, mas também de conquistar o interior, auxiliando na defesa da capitania do Rio Negro, ocupando os territórios, pacificando índios, fundando vilas às margens dos rios, substituindo, enfim, o papel a influência dos religiosos, além procurar melhorar a administração do Estado e estreitar as trocas comerciais entre as capitanias subalternas. Belém afirmou-se como a cidade mais próspera e "civilizada" das colônias do norte e teve papel destacado como elo entre a natureza e a civilização, tendo sido onde primeiro se instalou um jardim botânico no Brasil (1796). Promoveu a conquista do interior, do sertão amazônico e seus habitantes, e a saída de seus preciosos e raros produtos, rumo ao restante da América portuguesa e à Europa.
[4] A ocupação da região mais ao Norte da colônia, que fica entre os rios Oiapoque e Amazonas, conhecida então como capitania do Cabo Norte iniciou-se na primeira metade do século XVII, mas ainda de forma escassa. A criação da capitania em 1637 visava a criar um povoamento na região que auxiliasse a Coroa a manter os estrangeiros, sobretudo ingleses, franceses e holandeses afastados do território. O povoamento mais efetivo só se deu a partir da anexação da região ao Estado do Grão-Pará, sob a administração de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que ordenou a criação da vila de Macapá em 1751. Em 1761 o núcleo principal da vila já existia, como a Igreja, as praças e alguns terrenos já demarcados, além do início das obras da Fortaleza de São José de Macapá. Diferentemente de outras cidades da região amazônica, Macapá não surgiu às margens de um forte já existente, que começou a ser construído em 1764 e só foi concluído em 1782. A vila foi projetada de forma a ser um modelo para o planejamento da ocupação portuguesa, inclusive com a vinda prevista de colonos das ilhas dos Açores para povoá-la, trabalhar na agricultura e na pecuária, visando trazer a “civilização branca” para o interior da região Norte. Curiosamente foi para a construção da vila que houve a introdução dos primeiros escravos africanos negros na região. A vila de Macapá só foi elevada à categoria de cidade em 1856.
[5] Um dos rios mais longos e o mais volumoso do mundo, o Amazonas era conhecido no século XVI como Mar Doce e o Grande Rio. Centro da maior bacia hidrográfica do mundo com mais de 25 afluentes, o Amazonas nasce no Peru e deságua no Oceano Atlântico, na foz do Pará. O nome das Amazonas veio da expedição de Francisco de Orellana, que realizou a primeira viagem de navegação completa do rio entre os anos 1541 e 1542, e foi atacado por uma tribo de nativos. Segundo a narrativa de Orellana ao rei de Espanha Carlos I a tribo que o atacou era liderada por mulheres guerreiras, que o fez relacionar com a mitológica tribo das Amazonas. A notícia da descoberta de um rio daquela extensão navegável provocou repercussão na Europa e em pouco tempo holandeses e ingleses começavam a instalar suas primeiras feitorias e colônias nas margens para facilitar o escoamento de alguns produtos nativos, como peixe-boi salgado e as drogas do sertão. Portugal, que ainda não havia dado importância devida àquelas terras resolveu ocupá-las para evitar as invasões estrangeiras, construindo fortificações e instalando as primeiras vilas e cidades. O português Pedro Teixeira participou de uma primeira expedição pelo rio em 1615 que resultou na fundação da cidade de Belém por Francisco Caldeira de Castelo Branco em 1616, como uma das primeiras ações para o povoamento da região promovido pelo vice-rei Gaspar de Souza. Participou de outras incursões que combateram e expulsaram os holandeses da bacia amazônica e em 1636 (até 1638) realizou a primeira expedição portuguesa que subiu todo o rio Amazonas, partindo de Belém até Quito, no Equador. As tribos indígenas no Norte viviam em torno do rio e de seus afluentes e as cidades portuguesas começaram a ser fundadas também na bacia, aproveitando sua extensão e navegabilidade. O rio foi fundamental na expansão portuguesa no sentido oeste de Belém, ocupando suas margens com vilas, cidades e portos, e o utilizando como via para o escoamento da produção de drogas do sertão.
[6] O conceito de tirania nasceu na Grécia, designando, sobretudo, o poder exercido sem legitimidade. Para o filósofo Platão (427 A.E.C. - 347 A.E.C.), seria o governo de um só, o tirano, que reina ou governa não segundo a vontade dos cidadãos, mas apoiado apenas em seu próprio arbítrio. Já Aristóteles (384 A.E.C.-322 A.E.C.), definiu a tirania como uma forma impura e corrompida da monarquia, onde o tirano governa para os que estão no poder e não para o povo (Melillo Moreira de Melo. Tipologia clássica dos sistemas políticos. Revista de Ciência Política. FGV, 1979). No período moderno, o tirano é entendido como uma figura despótica, que usurpa o poder e o exerce de forma absoluta. Segundo Rafael Bluteau, em seu Diccionario da língua portuguesa, tirano seria o “príncipe que é único e despótico; o que usurpou o governo (...). O que governa mal, contra as leis, privando arbitrariamente os seus vassalos dos bens, da liberdade civil, das vidas e honras” (Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789).
[7] O filósofo iluminista francês Charles-Louis de Secondat, Barão de Montesquieu (1689-1755), definiu despotismo como um regime político onde o poder está concentrado nas mãos de um soberano, não havendo nem leis ou normas a serem seguidas, que governava de acordo com sua vontade e seus interesses. Com origem na expressão grega despote – chefe da casa – o despotismo transformaria o governo político num governo doméstico, onde tudo é arbitrário, todas as formas de liberdade são banidas e a autoridade do rei está fundamentada, sobretudo, na violência e dominação. Já o despotismo legal – conceito desenvolvido pelo fisiocrata Mercier de la Rivière – se opunha ao despotismo arbitrário. Defendia uma “monarquia funcional”, identificada com a proteção da propriedade e da liberdade econômica, sem, no entanto, grande liberdade política. O déspota legal teria no “bem governar” o seu maior interesse, com base nas evidências das leis e não em suas vontades. Associado ao conceito de déspota legal estaria o de despotismo esclarecido – expressão cunhada no século XIX para designar uma forma de governo característico da Europa da segunda metade do século XVIII, em que Estados absolutistas, seus monarcas e ministros tentaram pôr em prática alguns princípios dos ideais da Ilustração, sem, entretanto, abrirem mão da centralização do poder. Os casos paradigmáticos são os de Frederico II da Prússia, entre 1740 e 1786, apoiado por Voltaire; Catarina II, da Rússia, que se relacionou com Diderot; Carlos III da Espanha, com o conde de Aranda no governo, e de d. José I com o marquês de Pombal.
[8] Nasceu na cidade de Viseu, província da Beira, filho legítimo de Luís Xavier de Nápoles e Meneses e de D. Francisca Xavier de Nápoles e Lemos de Macedo. Por alvará de 15 de março de 1757 recebeu o foro de fidalgo da Casa Real. Ingressou na carreira militar em uma companhia do regimento de Cavalaria da praça de Almeida. Em 1761, ocupava o posto de cadete, assim como seu irmão, Bernardo de Nápoles Telo de Meneses. Quinze anos mais tarde, em remuneração a seus serviços, recebeu a mercê do hábito de cavaleiro da Ordem de Cristo, tendo sido habilitado em 10 de julho de 1776, após as diligências dos comissários da Mesa da Consciência e Ordens confirmarem seus atributos de nobreza e os bons procedimentos, bem como os de seus pais e avós, reputados como pessoas da principal nobreza da Beira. Discípulo do marquês de Pombal (já desterrado), segundo João Pereira Caldas, seu antecessor, Telo de Meneses foi nomeado governador e capitão-general do Estado do Grão-Pará e Rio Negro por carta patente de 19 de agosto de 1779. Era tenente de cavalaria em Almeida e em acréscimo de sua indicação foi elevado ao posto de capitão. Desembarcou em Belém em 26 de fevereiro do ano seguinte e tomou posse do governo do Estado do Grão-Pará no dia 4 de março. Sua administração foi marcada, entre outras realizações, pela promoção de atividades econômicas como a cultura do arroz e pelos esforços para secundar os trabalhos de demarcação das fronteiras amazônicas, estabelecidas pelo Tratado de Santo Ildefonso (1777). Por outro lado, querelas com o ouvidor-geral e o juiz de fora do Grão-Pará levaram José de Nápoles Telo de Meneses a cair em desgraça e a se afastar do real serviço depois de 1783, quando encerrou seu governo. Faleceu em Lisboa, solteiro e sem filhos. A herança e a satisfação de seus serviços recaíram na pessoa de um de seus sobrinhos, Luís Augusto de Nápoles Bourbon e Meneses.
[9] Até ao menos a metade do século XX, a virgindade das mulheres tinha um valor especial na sociedade, sendo elemento indicativo de honra, da mulher e de sua família, sobretudo das ricas famílias patriarcais, e de certa forma, moeda de troca para a realização de bons casamentos entre iguais. Em uma sociedade na qual o poder pátrio determinava o destino das filhas que, depois de casadas, passavam para a “posse” do marido, as fronteiras entre o que era consentido e o excesso de violência também eram precárias. Havia uma diferenciação não explícita entre estupro e defloramento, no qual o primeiro envolvia formas de coação violenta e no segundo mais uma persuasão, fosse por sentimentos ou promessas. Na prática, os casos de defloramento muitas vezes envolviam agressão física contra a mulher e o seu não-consentimento no ato sexual. Os crimes de sedução e desonra já estavam previstos desde as Ordenações Afonsinas (1446-1448), mas foram consideravelmente aprimorados nas Ordenações Manuelinas (1512-1603) e Filipinas (1595), que estabeleciam punições mais duras e tratavam menos as mulheres como culpadas ou aliciadoras dos agressores. Não custa reforçar que as leis eram aplicadas entre iguais. Homens de posições sociais e cor diferentes não teriam as mesmas punições, os fidalgos, quase sempre, eram punidos com degredo, prisão e indenizações, já aos comuns, à plebe, ficavam reservadas as penas mais graves que incluíam a de morte. Uma questão frequentemente mencionada para os crimes de defloramento trata sobre o casamento do agressor com as ofendidas, “solução” para o crime que acabava com a ofensa e suspendia automaticamente as penas, o que não era sempre o caso, ao menos entre as famílias da boa sociedade colonial. Tanto os pais quanto as próprias mulheres deveriam concordar com o casamento, o que frequentemente ocorria, caso o candidato a noivo fosse homem de nascimento e posses inferiores às da possível noiva. Quando havia o casamento, era preciso que o pai concordasse com a suspensão da pena, o que poderia não acontecer. Nos casos de não haver casamento, ficava o agressor, além de sujeito às punições já mencionadas, obrigado a custear o casamento da mulher agredida e pagar uma espécie de indenização pela perda da virgindade, o que se chamava “demandar a virgindade”. A família agredida precisaria solicitar tal indenização, que teria o efeito de eliminar a mancha da honra da família e tornar a moça novamente “de qualidade” para um bom casamento. No Brasil, o crime de sedução e defloramento passou a ser tratado como estupro somente no Código Criminal de 1890 e no Civil de 1916, embora as punições continuassem a existir também no Código Criminal de 1830.
Proibição de esmolar
Ofício expedido para o ministro de Negócios Estrangeiros e da Guerra, Antônio de Araújo e Azevedo, conde da Barca, relatando que o réu Inácio José Camelo havia solicitado uma licença para esmolar por três dias fora da prisão. Inácio havia matado a “mulata sua amásia” degolada na cama de sua prostituição e segundo o oficial que encaminha o pedido, este deveria ser ignorado, uma vez que seu crime era de morte e a liberação de um criminoso como aquele poderia resultar em motins, pedradas e murmuração contra a Justiça. O oficial que assina o documento, teria conhecido o réu na época em que este era oficial de justiça em Pernambuco, e já havia cometido uma série de delitos menores. Portanto ele provavelmente estaria planejando fugir. Pelo atrevimento de ter requerido essa saída, e por tê-la dirigido diretamente ao Trono, em vez de ao juiz, deveria ser castigado com 15 dias de tronco na prisão. Conclui dizendo que “será um dia de satisfação pública o em que este suplicante for ao patíbulo”.
Conjunto documental: Ministério dos Negócios do Brasil, Ministério dos Negócios do Reino, Ministério dos Negócios do Reino e Estrangeiros, Ministério dos Negócios do Império e Estrangeiros. Instituições policiais
Notação: 6J-83
Datas-limite: 1816-1817
Título do fundo: Diversos GIFI
Código do fundo: OI
Argumento de pesquisa: criminalidade
Data do documento: 26 de agosto de 1816
Local: Rio de Janeiro
Folha(s): -
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
O requerimento de Ignácio José Camelo deve ser sem dúvida escusado: este preso é réu de morte, que fez nesta cidade a uma mulata[1] sua amásia, que a degolou no leito de sua prostituição[2] aleivosamente, e saiu para os subúrbios, onde foi achado com o fato ensanguentado. Desde então se fez o seu processo, que me consta estar por tal maneira provado, que o mesmo será chegar o dia da sua proposição, que o da sua condenação a pena última; nem eu sei porque razão não se tem este réu proposto, quando aliás o ódio público está desde então clamando sobre ele. Se fosse deferido agora na pretensão, que tem de sair [acorrentado] a pedir por três dias esmolas, era bem de recuar uma universal murmuração[3], e até um motim de moleques com pedradas, e assobios, que fazia envergonhar a quem lhe desse tal licença. É muito preciso notar aqui que, sendo costume pedir ao Trono muito descaradamente, quando se tivesse pejo do seu delito, que a Sua Majestade[4] mesmo foi patente, nem se faria lembrado por mais esta circunstância.
Eu tenho tais informações do atrevimento deste réu desde o tempo, em que ele foi oficial de justiça, e réu por outros menores delitos em Pernambuco[5], que entendo que ele tinha neste projeto algum plano formado, ou de fugir, ou de amotinar para tirar sobre si algum partido.
É portanto seguro que se ele negue a graça, que pede, e que, só pela pedir, seja castigado dentro da prisão com 15 dias de [tronco[6]]; até porque claramente hoje se sabe que tais urgentes necessidades não há na cadeia[7], que hoje, além das esmolas de jantares da Misericórdia[8], e das religiões[9], é socorrida pela Casa Real[10] em dias certos da semana, e o suplicante, que blasona de ser rábula, se tem erigido em Letrado da cadeia[11], de modo que ganha suficientemente em maus registros, que ali faz, passado para seu poder o pouco dinheiro de todos os mais.
Será um dia de satisfação pública o em que este suplicante for ao patíbulo[12], e a justiça de Sua Majestade resplandecerá nesse dia.
Deus Guarde a Vossa Excelência. Rio 26 de agosto de 1816. Ilustríssimo e excelentíssimo Senhor Conde da Barca[13].
Paulo José [...]
[1] No Brasil colônia, o termo mulato começou a aparecer em escritos de fins do século XVI, referindo-se à ascendência, designando o filho de homem branco com mulher negra ou de negro com branca. De acordo com os estatutos de pureza de sangue portugueses, os mulatos eram considerados uma "raça infecta", sendo-lhes vetado o acesso a determinados cargos públicos e títulos de nobreza. A despeito disto, muitos conseguiram assumir postos de proeminência no Brasil colonial e conquistaram títulos nobiliárquicos. Com o tempo, o termo mulato passou a ser associado à cor, identificando aqueles cujo tom de pele estaria entre o negro e o branco. Enquanto o termo pardo, por sua vez, era privilegiado na documentação oficial, a categoria “mulato” assumia frequentemente uma conotação pejorativa, sendo associada a características negativas, como indolência, arrogância e desonestidade. As mulatas eram relacionadas à lascívia, ou seja, com considerada propensão a luxúria sendo, por isso, tidas como um risco à fidelidade conjugal da família branca. Não podiam, também, alcançar a estima social garantida às mulheres ditas honradas através do casamento legítimo, já que esse lhes era vetado. Elo entre as duas posições mais antagônicas da sociedade colonial, muitas vezes, resultante de relações extraconjugais entre senhores e escravas, o mulato era visto como uma ameaça à ordem senhorial escravista da qual era produto. Mesmo quando livres ou forros, os mulatos carregavam o estigma da escravidão. Não tinham direitos filiais, embora estivessem mais aptos que os negros de dispor de favores pelo seu parentesco com o senhor branco, daí a expressão utilizada no período colonial de que alguns senhores se deixavam “governar por mulatos”. A visão desabonadora a respeito dos mulatos, provavelmente deita raízes nessas “facilidades” provindas de sua origem paterna, por exemplo, na compra e concessão de alforrias colocando em questão o princípio do partus sequitur ventrem, que previa a hereditariedade do cativeiro, embora existissem exceções e, alguns conseguissem, inclusive, tomar parte nas heranças familiares.
[2] Nas sociedades primitivas, a ausência de obstáculos à sexualidade tornava desnecessária a configuração de qualquer forma de prostituição. Esta seria, portanto, constitutiva do processo de socialização das civilizações antigas, com o surgimento da propriedade privada e o estabelecimento da monogamia e da sociedade patriarcal, fundada na subordinação das mulheres, públicas ou privadas, pela família, respaldada na figura do homem. Foi nas civilizações avançadas da Antiguidade que a prostituição se desenvolveu sob a forma tipicamente comercializada. No Brasil, a prática foi uma constante no período colonial. As primeiras prostitutas desembarcaram na América portuguesa ainda no primeiro século da colonização, estimuladas pelo Coroa portuguesa, que buscava, com a vinda de mulheres brancas, barrar a crescente mestiçagem entre homens brancos e indígenas. Prática tolerada na sociedade colonial, foram úteis para a valorização e consolidação do seu oposto: as mulheres “puras” ditas moças de família. Tornou-se uma forma de trabalho tanto para as mulheres que procuravam garantir sua sobrevivência, quanto para os senhores de escravos que exploravam sexualmente as cativas. O ato de prostituir-se não era considerado uma atividade criminosa no Brasil colonial, no entanto, alguns preceitos básicos deveriam ser respeitados, como não manter relações com outras mulheres ou parentes, não induzir que uma filha também se prostituísse e, ainda, não abandonar o caráter esporádico das relações, evitando gerar uma acusação de concubinato. As prostitutas, circulando livremente pelos logradouros e recebendo homens em suas casas, viviam uma realidade diretamente oposta à das mulheres ditas honradas, que aguardavam pelo casamento.
[3] Neste contexto, murmuração era como uma boataria sem comprovação, comentários entre a população, um disse me disse, falatório, intrigas sem confirmação.
[4] Segundo filho de d. Maria I e d. Pedro III, se tornou herdeiro da Coroa com a morte do seu irmão primogênito, d. José, em 1788. Em 1785, casou-se com a infanta Dona Carlota Joaquina, filha do herdeiro do trono espanhol, Carlos IV que, na época, tinha apenas dez anos de idade. Tiveram nove filhos, entre eles d. Pedro, futuro imperador do Brasil. Assumiu a regência do Reino em 1792, no impedimento da mãe que foi considerada incapaz. Um dos últimos representantes do absolutismo, d. João VI viveu num período tumultuado. Foi sob o governo do então príncipe regente que Portugal enfrentou sérios problemas com a França de Napoleão Bonaparte, sendo invadido pelos exércitos franceses em 1807. Como decorrência dessa invasão, a família real e a Corte lisboeta partiram para o Brasil em novembro daquele ano, aportando em Salvador em janeiro de 1808. Dentre as medidas tomadas por d. João em relação ao Brasil estão a abertura dos portos às nações amigas; liberação para criação de manufaturas; criação do Banco do Brasil; fundação da Real Biblioteca; criação de escolas e academias e uma série de outros estabelecimentos dedicados ao ensino e à pesquisa, representando um importante fomento para o cenário cultural e social brasileiro. Em 1816, com a morte de d. Maria I, tornou-se d. João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1821, retornou com a Corte para Portugal, deixando seu filho d. Pedro como regente.
[5] A capitania de Pernambuco foi uma das subdivisões do território brasileiro no período colonial. Em 9 de março de 1534, essas terras foram doadas ao fidalgo português Duarte Coelho Pereira, que fundou Recife e Olinda (primeira capital do estado) e iniciou a cultura da cana-de-açúcar e do algodão, que teriam importante papel na história econômica do país. A capitania, originalmente, estendia-se por 60 léguas entre os rios Igaraçu e São Francisco, e era chamada de Nova Lusitânia. Nos primeiros anos da colonização, junto com São Vicente, a capitania teve grande destaque, pois sua exploração foi bem-sucedida, principalmente devido ao cultivo e produção do açúcar, responsável por mais da metade das exportações brasileiras. O sucesso da lavoura açucareira atraiu investimentos de outros colonos portugueses. O povoado de Olinda prosperou, tanto que, em 1537, o povoado foi elevado à categoria de vila, tornando-se um dos mais importantes centros comerciais da colônia. Em 1630, no entanto, os holandeses invadem Olinda e conquistam Pernambuco. A vila foi incendiada em 1631, como resultado dos contra-ataques portugueses, e Recife torna-se, então, o centro administrativo da capitania, crescendo sob a administração dos holandeses. O domínio holandês, sob a administração do conde Maurício de Nassau, provocou mudanças econômicas, sociais e culturais: tolerância religiosa; melhoramento urbano em Recife; incentivo a atividades artísticas e estudos científicos, além de acordos com os senhores de engenho no sentido de minorar suas dívidas e incentivar a produção de açúcar. Os holandeses foram expulsos em 1654 e foi iniciada a lenta reconstrução da vila de Olinda. Os anos de guerra e os conflitos internos abalaram a economia da capitania e, com o crescimento de outras regiões da colônia, Pernambuco perdeu sua supremacia econômica. Foi, também, no século XVII, que se formou o quilombo dos Palmares, o maior centro de resistência negra à escravidão do período colonial. Parte dele localizava-se em terras da capitania de Pernambuco e era formado por escravos fugitivos. Foi destruído em 1690, por Domingos Jorge Velho, após quase um século de existência. Pernambuco foi palco de diversos conflitos e revoltas. A guerra dos mascates, em 1710 e 1711, apresentou-se como um embate entre interesses imediatos de comerciantes portugueses – concentrados em Recife, pejorativamente chamados de mascates – e senhores de engenho, assentes em Olinda. A já existente rivalidade entre as duas cidades, que expressava uma disputa de poder político entre os dois grupos mencionados, acentuou-se em 1710, com a elevação do povoado de Recife à categoria de vila, independente de Olinda que, a partir de então, entraria em declínio, perdendo o status de capital para a rival logo em 1711. Em 1817, outro conflito eclodiria na capitania, a Revolução Pernambucana, que marcou o período de governo de d. João VI como um dos principais movimentos de contestação ao domínio português. Em meio a esse clima, a dissolução da Assembleia Constituinte, em 1823, e a outorga da Constituição de 1824 por d. Pedro I geraram violenta reação de Pernambuco. Após a tentativa de destituição de Manuel Paes de Andrade da presidência da província, para a nomeação de Francisco Pais Barreto pelo Imperador, acirraram-se as tensões, abrindo caminho para um movimento contestador: a Confederação do Equador – grande movimento revolucionário de caráter separatista e republicano que se estendeu por grande parte do nordeste brasileiro e teve Pernambuco como centro irradiador.
[6] Na Idade Média, esse instrumento de tortura era extremamente comum nas praças das vilas e cidades, deixando o condenado ao suplício exposto às intempéries, aos ratos e insetos e aos insultos públicos. No Brasil, era comum, no período de escravidão, que cada fazenda possuísse um tronco no terreiro, usado pelos senhores e seus feitores para punir o escravo por “desobediência” ou tentativa de fuga. Formado por duas peças de madeira retangular, presas em uma das extremidades por dobradiças de ferro e na outra um cadeado, com orifícios onde eram encaixados o pescoço, pulsos e tornozelos do escravo, que ficava ali cativo por dias e noites.
[7] O sistema prisional, baseado no encarceramento diferenciado e delimitado por penas variáveis, aparece no mundo contemporâneo (ou, pelo menos, na maior parte dele) como concretização de sanções impostas a indivíduos que quebram as regras estabelecidas. Na realidade, a privação da liberdade e o isolamento como punição em si – e também reeducação – surgiu na Europa. Não há registros na Antiguidade, por exemplo, do uso punitivo do encarceramento, utilizado na época como detenção temporária do suspeito até que a punição final fosse imposta, após julgamento. O banimento, a infâmia, a mutilação, a morte e a expropriação eram as penas mais recorrentes. Na Idade Média, o cenário era semelhante. O crescimento populacional, a urbanização e as graves crises de fome que marcaram a Idade Moderna resultaram em aumento de criminalidade e em revolta social, movimentos estes que, às vezes, se sobrepunham. Diante dessa situação, as penas cruéis e a própria pena de morte, aplicadas em público, utilizadas na Idade Média em resposta a crimes frívolos (roubar um pão, ofender o senhorio, blasfemar), deixaram de ser adequadas, posto que poderiam facilmente causar um levante popular. Além disso, cada vez mais se considerava o espetáculo bizarro das punições públicas uma afronta ao racionalismo e ao humanismo que marcaram o século XVIII. Se no Antigo Regime o sistema penal se baseava mais na ideia de castigo do que na recuperação do preso, no século XVIII se intensificam as tentativas, esboçadas no século anterior, de transformar as velhas masmorras, cárceres e enxovias infectas e desordenadas, onde se amontoavam criminosos, em centros de correção de delinquentes. Em boa parte do mundo, entretanto, tais ideias demorariam a sair do papel. No Brasil, no início do século XIX, muitas fortalezas funcionaram como prisões para corsários, amotinados e, algumas vezes, para criminosos comuns. Na maior parte do vasto território da colônia, as cadeias eram administradas pelas câmaras municipais e, geralmente, localizavam-se ao rés do chão das mesmas, ou nos palácios de governo. A tortura, meio de obtenção de informações conforme previsto pelas Ordenações Filipinas, era utilizada tanto em casos de prisão por motivos religiosos, quanto em prisioneiros comuns. As cadeias não passavam de infectos depósitos de pessoas do todo o tipo: desde pessoas livres, já condenadas ou sofrendo processo, até suspeitos de serem escravos fugidos, prostitutas, indígenas, loucos, vagabundos. Proprietários, homens ricos e influentes e funcionários da Coroa permaneciam em um ambiente separado. Para os escravos, havia uma cadeia denominada Calabouço, embora também fossem encerrados em outros estabelecimentos.
[8] Irmandade religiosa portuguesa criada em 1498, em Lisboa, pela rainha Leonor de Lencastre. Era composta, inicialmente, por cem irmãos, sendo metade nobres e os demais plebeus. Dedicada à Virgem Maria da Piedade, a irmandade adotou como símbolo a virgem com o manto aberto, representando proteção aos poderes temporal e secular e aos necessitados. Funcionava como uma organização de caridade prestando auxílio aos doentes e desamparados, como órfãos, viúvas, presos, escravos e mendigos. Entre as suas realizações, destaca-se a fundação de hospitais. Segundo o historiador Charles Boxer, eram sete os deveres da Irmandade: “dar de comer a quem tem fome; dar de beber a quem tem sede; vestir os nus; visitar os doentes e presos; dar abrigo a todos os viajantes; resgatar os cativos e enterrar os mortos” (O império marítimo português. 2ª ed., Lisboa: Edições 70, 1996, p. 280). A instituição contou com a proteção da Coroa portuguesa que, além do auxílio financeiro, lhe conferiu privilégios, como o direito de sepultar os mortos. Enfrentando dificuldades financeiras, a Mesa da Misericórdia e os Hospitais Reais de Enfermos e Expostos conseguiram que a rainha d. Maria I lhes concedesse a mercê de instituir uma loteria anual, através do decreto de 18 de novembro de 1783. Cabe destacar que os lucros das loterias se destinavam, também, as outras instituições pias e científicas. Inúmeras filiais da Santa Casa de Misericórdia foram criadas nas colônias do Império português, todas com a mesma estrutura administrativa e os mesmos regulamentos. A primeira Santa Casa do Brasil foi fundada na Bahia, ainda no século XVI. No Rio de Janeiro, atribui-se a criação da Santa Casa ao padre jesuíta José de Anchieta, por volta de 1582, para socorrer a frota espanhola de Diogo Flores de Valdez atacada por enfermidades. A irmandade esteve presente, também, em Santos, Espírito Santo, Vitória, Olinda, Ilhéus, São Paulo, Porto Seguro, Sergipe, Paraíba, Itamaracá, Belém, Igarassu e São Luís do Maranhão. A Santa Casa constituiu a mais prestigiada irmandade branca dedicada à ajuda dos doentes e necessitados no Império luso-brasileiro, desempenhando serviços socais como a concessão de dotes, o abrandamento das prisões e a organização de sepultamentos. Os principais hospitais foram construídos e administrados por essa irmandade, sendo esta iniciativa gerada pelas precárias condições em que viviam os colonos durante o período inicial da ocupação territorial brasileira. A reunião do corpo diretivo da irmandade da Santa Casa da Misericórdia, responsável pela administração desta associação, era chamada Mesa da Misericórdia.
[9] Todas as culturas têm manifestações que se podem chamar religiosas, são um fator comum na experiência humana ao longo do tempo e de tradições e sociedades diferentes. As religiões e práticas religiosas incluem um conjunto de regras, observâncias, advertências e interdições, que se expressam na linguagem e em formas simbólicas, canônicas ou populares, que permeiam a vida cotidiana e auxiliam na construção de identidades, memórias coletivas e experiências místicas que não se resumem ao praticado em templos e igrejas. Elas modelam os padrões sociais, influindo em identidades de gênero, sexualidade, na participação política, em conflitos em nome da fé, nas liturgias etc. As religiões ajudam os homens a lidarem com o medo da morte, e com a incerteza sobre haver ou não uma ordem no mundo, por meio da formulação de ritos e símbolos que representem essa ordem ideal, estabelecendo modelos de comportamento a serem imitados. Pressupõem a aceitação prévia de uma autoridade – sobretudo nas religiões monoteístas, que se tornariam hegemônicas – que auxiliem a explicar ou dar sentido à falibilidade das coisas, aos problemas do mundo. No Brasil colonial, a religião católica foi um dos pilares que sustentou a conquista e colonização do novo mundo, ante a possibilidade de conquistar novas almas para o cristianismo, e ocupou, ao longo dos séculos, espaço importante nas instituições, na política e em quase todas as esferas daquela sociedade. As religiões, sobretudo as cristãs, ajudaram a ordenar o mundo laico, através da Cristandade, diretamente ligado aos soberanos, vistos como a voz do Deus único na Terra, endossados pelo Papa, o representante “oficial” de Deus. Foi somente com o Iluminismo, nos séculos XVII e XVIII, que o papel dominante da religião na vida dos homens começou a ser questionado, movimento que, por fim, levou à separação entre Estado e religião, e à redução das práticas religiosas à esfera privada e pessoal da vida dos homens. Entretanto, a secularização da política pode ser vista como um fenômeno recente. Durante todo o período colonial e imperial, não havia, em Portugal ou no Brasil, um estado laico; mesmo durante a República, quando Estado e religião foram oficialmente separados, havia uma tendência à confusão entre esses setores, com excessiva participação de religiosos na política.
[10] Expressão utilizada para se referir tanto ao local físico onde viviam o rei e sua família, quanto à própria instituição monárquica em si. Compreende além da família real, as famílias fidalgas e a nobreza de Portugal. Instituição absolutista, foi responsável pela jurisdição e manutenção da hierarquia da numerosa criadagem subordinada diretamente ao rei, nos moldes da sociedade de corte do Antigo Regime. Sua organização encontrava-se dividida em áreas como o serviço nas câmaras e casas, cozinha, atividades relacionadas à caça, guarda, serviço religioso, entre outros. Os ofícios ligados à real câmara – neste caso, câmara é alusivo ao espaço de intimidade do monarca, a casa em que se dorme – compreendiam funções que envolviam um contato mais direto com o rei. O titular do ofício atuava no núcleo da corte, conferindo grande influência política àquele que a Coroa concedia autoridade para executar um determinado tipo de tarefa. Via de regra, as atividades estavam divididas entre ofícios maiores – que tinham vastas competências, era o caso do mordomo-mor e camareiro-mor – e os menores – que englobava trabalhos ligados a profissões “mecânicas”, como pintor, barbeiro, boticário, cirurgião e físico. Os cargos do serviço real eram muito disputados pelos fidalgos – ser criado da Casa Real não significava ser inferior, muito pelo contrário, além de ser um canal direto com o Rei, proporcionava honra, status e a possibilidade de obtenção de uma mercê. A Casa Real era organizada em seis setores administrativos, as “repartições”: a Mantearia Real, que tratava de assuntos relativos à mesa do Rei, sua família e dos fidalgos de sua casa, como toalhas, talheres, guardanapos, etc; a Cavalariça Real, que responde pelos equinos, muares, pelas seges e carruagens reais; Ucharia e Cozinhas Reais, que cuidavam da despensa – alimentação e bebidas – de toda a família real e de todas as famílias nobres e fidalgas do reino; a Real Coutada, responsável pelos terrenos reais, florestas e bosques; Guarda-Roupa Real, ocupado das vestimentas do rei e parentes; e a Mordomia mor, cuja principal atribuição era a organização e fiscalização dos outros setores. Houve grande dificuldade na reorganização da Casa Real no Brasil, principalmente pelos recursos escassos do Real Erário – e enormes gastos –, pelas intrigas e conflitos entre portugueses do reino e os colonos, pela precária utensilagem e falta de pessoal preparado para o serviço real, e pela própria dificuldade de adaptar costumes absolutistas antigos ao Brasil colonial. Ficaram conhecidas da população do Rio de Janeiro as frequentes contendas entre Joaquim José de Azevedo, tesoureiro da Casa Real, e d. Fernando José de Portugal e Castro, mordomo mor da Casa Real, presidente do Real Erário e secretário de Estado de d. João VI, em torno de recursos para manter o luxo da família real, que era considerada uma das mais simples da Europa. O excesso de gastos gerava problemas de fornecimento e abastecimento em toda a cidade, e frequentemente resultava em carestia de gêneros, principalmente para os mais pobres, que sentiam mais o peso de gerar divisas para sustentar a onerosa Casa Real de Portugal.
[11] Neste documento, Inácio José Camelo era chamado de o “Letrado da Cadeia” porque provavelmente era o único capaz de ler e escrever e por isso mesmo tinha certo poder e status superior aos companheiros, sendo também ele quem escrevia as petições e súplicas dos outros sentenciados, para isso cobrando e como sugere o autor do parecer, extorquindo o dinheiro dos outros condenados.
[12] Tablado, andaime, estrado erguido do chão a uma altura suficiente para que se observe a ação pública realizada. Empregado, sobretudo, nas execuções de réus condenados à pena capital, o patíbulo ou cadafalso foi bastante utilizado durante o rigorismo da justiça penal absolutista dos tribunais régios que aplicavam as ordenações. Durante a execução, a sentença era lida em público para que todos tomassem ciência dos malefícios praticados pelos sentenciados e a pena então aplicada, normalmente, através de meios eliminatórios os mais terríveis e cruéis. A atrocidade, todo aparato montado e a publicidade dos castigos sentenciados foram utilizados como forma de intimidação social, buscando evitar assim, novas infrações. A atmosfera política da época, profundamente influenciadas pelo absolutismo e glorificação da figura do rei, imprimia um cunho gravíssimo ao crime de lesa-majestade, vale dizer, crime político, daí a aplicação da pena capital sobre o cadafalso, diante dos olhos de toda população, com o propósito de produzir efeitos repressivos e dissuasórios.
[13] Antônio de Araújo e Azevedo, (1754-1817), Conde da Barca, iniciou os estudos superiores em filosofia na Universidade de Coimbra, mas acabou dedicando-se ao estudo da história e da matemática. Ingressou na diplomacia a partir de 1787 e, tanto neste campo como na política palaciana, opõe-se seguidas vezes a um dos homens fortes de d. João VI: d. Rodrigo de Sousa Coutinho. Considerado de tendências “francófilas” (em oposição a este último, “anglófilo”), Araújo e Azevedo esteve no centro das delicadas negociações de paz entre Portugal e a França do Diretório, tentando negociar um acordo em 1797. O acordo não foi bem-sucedido e Araújo e Azevedo foi abertamente censurado por seus pares, acusado de não defender os interesses da nação. A situação deteriorou-se ainda mais quando os franceses o acusaram de conspiração e o mantiveram detido por cerca de três meses na Torre do Templo. Entre 1804 e 1808, ocupou os cargos de ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e ministro do Reino. Defendeu a vinda da família real para o Brasil, em 1808, ano em que acaba sendo substituído por d. Rodrigo. Instala-se no Rio de Janeiro, acompanhado de toda a sua biblioteca particular, que viria a compor o acervo bibliográfico inicial da Biblioteca Nacional; uma tipografia completa (que se tornou a base da Imprensa Régia); além de uma coleção de minerais e de instrumentos científicos, que passam a ocupar a maior parte do seu tempo após sua substituição no conselho do Reino. A dedicação às ciências o leva a instalar um laboratório em sua residência, onde produzia licores e aguardentes. Também teria, para alguns autores, participado da vinda da Missão Artística Francesa, em 1816. Seu retorno à política ocorre em 1814, quando é nomeado ministro da Marinha e Ultramar. O título de conde da Barca foi criado especificamente para ele em 1815, pouco depois da concretização do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve, há tempos defendida por Araújo e Azevedo, e do seu envolvimento nas discussões do Congresso de Viena. Sua ascensão continuou com a nomeação para o cargo de ministro da Fazenda (1816), da Guerra (1816), primeiro-ministro do Reino Unido (1817) e secretário de Estado dos Negócios do Reino (1817). O triunfo político de Araújo e Azevedo foi interrompido por sua morte aos 63 anos.
Calúnias contra o Estado e o Rei
Ofício enviado por Manuel Ribeiro da Silva informando que recebeu uma queixa do capitão da Fortaleza de Santa Cruz, José Ribeiro da Silva, que era dono de uma estalagem onde residiam o tenente-coronel da brigada Real da Marinha José Bernardes Lacerda, o praça José Antônio Galvão, o cadete do 1º regimento do Exército Carlos Figueira e o cirurgião José Rodrigues da Conceição, envolvidos em desordens e “murmurações” (calúnias) contra o Estado, o Rei, o marquês de Aguiar (ministro dos Negócios do Reino), e até o intendente geral de Polícia, chamado de “asno”. Quando José Ribeiro pediu que os homens deixassem os cômodos, quase foi agredido, além de ter sido ofendido, bem como a própria Polícia, que os quatro achavam que os deixaria impune. Manuel Ribeiro dá ciência de que prendeu o desbocado cirurgião e conseguiu, com dificuldade, despejar os outros três.
Conjunto documental: Ministério dos Negócios do Brasil, Ministério dos Negócios do Reino, Ministério dos Negócios do Reino e Estrangeiros, Ministério dos Negócios do Império e Estrangeiros. Instituições policiais
Notação: 6J-83
Datas-limite: 1816-1817
Título do fundo: Diversos GIFI
Código do fundo: OI
Argumento de pesquisa: criminalidade
Data do documento: 23 de agosto de 1816
Local: Rio de Janeiro
Folha(s): -
Ontem pelas 10 horas da manhã, veio ao meu [...] o capitão da Fortaleza de Santa Cruz[1], e [...] José Ribeiro da Silva dar me frente que o tenente coronel da Brigada Real da Marinha, José Bernardes de Lacerda, que morava em um quarto da sua estalagem, assim como o [...] das [Praças] [...], José Antônio Galvão, e o cadete do 1º Regimento de [...] do exército Carlos Figueira [...], estes José [Roiz/Rodrigues] da Conceição cirurgião[2] vindo de [Lisboa][3], constantemente murmuravam[4] do [Estado], dizendo publicamente na sua estalagem, o tenente coronel, que isto tudo estava perdido desta Corte, que Sua Majestade Elrey[5] Nosso Senhor era um tolo, que em Portugal queriam um rei ainda que fosse de paus, e que se caso Senhora Majestade não fosse queriam fazer uma República[6], e que faziam muito bem, e tinham razão, e o Marques de Aguiar[7], que ele andava muito tempo atrás dele para o seu despacho, e que muitas vezes se lembrou de o [...] a pontapé, que a ele, quem lhe tinha [escolhido], era a Rainha Nossa Senhora[8], que essa sim, que era a nossa fortuna, e que a não ser ela então de todo estava acabado, que Elrey nele tinha perdido um amigo, o cirurgião, [...] mais além disto, que aqui senão pode [servir] para que não há providências, que a ele não esta [...] em Portugal[9], se tinha ido e media [...] embora, a não querer o seu despacho; porém que ele não dizem sim, ou não, e que lhe não dão desengano; que o intendente geral da polícia[10], é um asno, toleirão, e que em lugar de dar providências, está metido na sua chácara esgotando [botelhas] de vinho, e que entregava o governo da polícia, a um [moço de feitos], o [...]. e sejam como isto assim, com o [pode] andar governado, que o intendente em vez de cuidar na água, estava tomando o verde[11], porém, que o cirurgião, era o que principiava sempre a murmuração, e o tenente coronel [analisava] os diferentes fatos com a sua opinião; que o cadete também entrava com a sua opinião; o [...] esse só ouvia; que ele declarante, advertiu ao tenente coronel, que houvesse de se abster, pois, que aquilo era uma casa de pouso[12], e não queria trabalhos, e não gostava de ouvir falar mal do Estado, ao que lhe respondeu, que fosse guardar [cabras], que era um tolo, e se lhe mandavam alguma coisa para a sua família, que é do que ele precisava; a que lhe ele respondera, que não era por isso, era porque ele não queria ouvir falar mal do Estado e que vendo-se neste aperto, ontem a noite, pusera escritos em sua estalagem em que dizia a todos, os ali alojados, que ele no 1° de abril fechava a estalagem por não querer aquele modo de vida; que esta manhã, apareceram os escritos, todos [barreados] com [...], e que o alferes o fora atacar ao seu quarto, querer lhe puxar as orelhas, e querê-lo levar para que ele limpasse aquilo mesmo, que ele a este procedimento [...] que se vinham queixar a Guarda da Polícia, ao que o [...] respondeu, que cagava para a polícia, e fosse a quantas polícias quisesse: dei imediatamente a providência, de mandar o oficial de Estado-Mor, o alferes[13] João Pereira Cabral, que dissesse a todos, [...] [secretária], que vindo a mesma, os [...], que houvessem de se mudar para quantas de outra estalagem, a fim de se evitar desordens, pois que o dono me requeria a sua segurança: o tenente coronel responder-me que não queria atacando-me, dei-lhe a voz Almirante [..], não quis ser conduzido por um capitão deste corpo, prendi o cirurgião, e fiz-lhe a presença aos seus papéis, por o mesmo queixoso me dizer, que eles estavam continuamente a escreverem [ao] Tenente Coronel não quis facilitas a chave do baú, mandei para aquele lugar o Tenente deste corpo Joaquim [...] da Silva, para embaraçar não mandasse ele tirar os papéis do seu quarto, e os outros lhes mandei dar lugar nas outras estalagens. [...] do Campo de Santana[14] 23 de agosto de 1816.
Manoel Ribeiro da Silva
[1] Principal estrutura defensiva da baía de Guanabara protegia a cidade do Rio de Janeiro e seu porto, a fortaleza teve sua origem na criação de uma bateria, na década de 1580, erguida sob a proteção da Nossa Senhora da Guia. No fim daquele mesmo século, essa bateria conseguiu repelir a aproximação de uma esquadra holandesa que se aproximava da cidade de São Sebastião com intenções dúbias (acometidos de escorbuto ou planejando uma invasão). Seu nome atual veio em 1612, e durante o governo de Martim Sá na década seguinte, a fortaleza ganhou reforços significativos, com novas peças de artilharia. No final do século XVII, contava com 38 peças e, em 1710, a bateria entraria em ação na defesa da baía contra o corsário francês Duclerc. Depois de seguidos reforços ao longo dos anos, a fortaleza mostrava-se imponente em 1730, apresentando 135 canhões em prontidão. Nesta época, adquire a sua forma atual, delineada em pedras já cortadas, e enviadas de Portugal. Durante o século XIX, funcionou como prisão, recebendo até mesmo figuras ilustres caídas em desgraça, como José Bonifácio e Bento Gonçalves. Apresentava celas, paredão de fuzilamento e forca no pátio. (Adler Homero Fonseca de Castro. Muralhas de pedra, canhões de bronze, homens de ferro: fortificações do Brasil de 1504 a 2006. Rio de Janeiro: FUNCEB, 2009 http://www.funceb.org.br/images/revista/7_0v7y.pdf)
[2] A cirurgia vem de uma longa tradição científica que nos séculos XVII e XVIII podia ser localizada no tratado árabe “O método da medicina”, de Albucasis, (936-1013) traduzido em latim e largamente disseminado na Idade Média. Na França a cirurgia teria sido o campo mais radicalmente transformado no século das Luzes, como escreve Alain Touwaide (Chirurgie. In: Delon, M. Dictionnaire européen des Lumières, 1997). É nesse período que os cirurgiões conquistam o respeito dos médicos e que a cirurgia se torna, nas universidades, um instrumento de investigação do corpo e da própria doença. Os cirurgiões distinguiam-se dos médicos, havendo diferenças entre eles, como em Portugal onde eram divididos em três tipos, os diplomados, aprovados e barbeiros, segundo a formação e local de aprendizagem, como hospitais militares, misericórdias ou outros hospitais, como explica Lycurgo Santos Filho (Cirurgiões. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza. Dicionário da história da colonização portuguesa no Brasil, 1994). Predominaram no Brasil e em Portugal os cirurgiões-barbeiros, acolhidos como aprendizes pelos mestres cirurgiões. Ainda de acordo com Santos Filho, nos séculos XVI e XVII os cirurgiões eram quase todos cristãos novos, quase sempre perseguidos pelo Santo Ofício por práticas judaizantes, mas que dada sua especialidade chegaram a postos de destaque na sociedade colonial, como assinala Ronaldo Vainfas (Cf. Cirurgiões. In: Dicionário do Brasil colonial, 1500-1808, 2001). Nos séculos seguintes os cirurgiões na América portuguesa foram muitas vezes negros, escravizados ou não, além dos classificados como brancos ou mulatos. Cabia-lhes sangrar, aplicar bichas ou ventosas, escalda-pés, banhos, arrancar dentes, e, cortar cabelo e fazer a barba. Sem que tivessem autorização para tal, procediam a amputações e lancetavam abscessos diz Lycurgo S. Filho. A cirurgia seguiria dividida entre aqueles que adquiriam o conhecimento com mestres ou pela prática e outros que a exerceriam a partir das universidades. A partir de 1808 os hospitais militares de Salvador e do Rio de Janeiro passam a contar com cursos de cirurgia; Entre 1813 e 1816 são fundadas, nas mesmas cidades, academias médico-cirúrgicas que concedem diplomas de cirurgião e cirurgião formado. Em 1832 são criadas faculdades de medicina no Império. (PIMENTA, T. S. “Curandeiro, parteira e sangrador: ofícios de cura no início do oitocentos na corte imperial”. Khronos, nº6, pp. 59 - 64. 2018.)
[3] Capital de Portugal, sua origem como núcleo populacional é bastante controversa. Sobre sua fundação, na época da dominação romana na Península Ibérica, sobrevive a narrativa mitológica feita por Ulisses, na Odisseia de Homero, que teria fundado, em frente ao estuário do Tejo, a cidade de Olissipo – como os fenícios designavam a cidade e o seu maravilhoso rio de auríferas areias. Durante séculos, Lisboa foi romana, muçulmana, cristã. Após a guerra de Reconquista e a formação do Estado português, inicia-se, no século XV, a expansão marítima lusitana e, a partir de então, Portugal cria núcleos urbanos em seu império, enquanto a maioria das cidades portuguesas era ainda muito acanhada. O maior núcleo era Lisboa, de onde partiram importantes expedições à época dos Descobrimentos, como a de Vasco da Gama em 1497. A partir desse período, Lisboa conheceu um grande crescimento econômico, transformando-se no centro dos negócios lusos. Como assinala Renata Araújo em texto publicado no site O Arquivo Nacional e a história luso-brasileira (http://historialuso.arquivonacional.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3178&Itemid=330), existem dois momentos fundadores na história da cidade: o período manuelino e a reconstrução pombalina da cidade após o terremoto de 1755. No primeiro, a expansão iniciada nos quinhentos leva a uma nova fase do desenvolvimento urbano, beneficiando as cidades portuárias que participam do comércio, enquanto são elas mesmas influenciadas pelo contato com o Novo Mundo, pelas imagens, construções, materiais, que vinham de vários pontos do Império. A própria transformação de Portugal em potência naval e comercial provoca, em 1506, a mudança dos paços reais da Alcáçova de Lisboa por um palácio com traços renascentistas, de onde se podia ver o Tejo. O historiador português José Hermano Saraiva explica que o lugar escolhido como “lar da nova monarquia” havia sido o dos armazéns da Casa da Mina, reservados então ao algodão, malagueta e marfim que vinham da costa da Guiné. Em 1º de novembro de 1755, a cidade foi destruída por um grande terremoto, com a perda de dez mil edifícios, incêndios e morte de muitos habitantes entre as camadas mais populares. Caberia ao marquês de Pombal encetar a obra que reconstruiu parte da cidade, a partir do plano dos arquitetos portugueses Eugenio dos Santos e Manuel da Maia. O traçado obedecia aos preceitos racionalistas, com sua planta geométrica, retilínea e a uniformidade das construções. O Terreiro do Paço ganharia a denominação de Praça do Comércio, signo da nova capital do reino. A tarde de 27 de novembro de 1807 sinaliza um outro momento de inflexão na história da cidade, quando, sob a ameaça da invasão das tropas napoleônicas, se dá o embarque da família real rumo à sua colônia na América, partindo no dia 29 sob a proteção da esquadra britânica e deixando, segundo relatos, a população aturdida e desesperada, bagagens amontoadas à beira do Tejo, casas fechadas, como destacam os historiadores Lúcia Bastos e Guilherme Neves (Alegrias e infortúnios dos súditos luso-europeus e americanos: a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1807. Acervo, Rio de Janeiro, v.21, nº1, p.29-46, jan/jun 2008. http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/86/86). No dia 30 daquele mês, o general Junot tomaria Lisboa, só libertada no ano seguinte mediante intervenção inglesa.
[4] Neste contexto, murmuração era como uma boataria sem comprovação, comentários entre a população, um disse me disse, falatório, intrigas sem confirmação.
[5] Segundo filho de d. Maria I e d. Pedro III, se tornou herdeiro da Coroa com a morte do seu irmão primogênito, d. José, em 1788. Em 1785, casou-se com a infanta Dona Carlota Joaquina, filha do herdeiro do trono espanhol, Carlos IV que, na época, tinha apenas dez anos de idade. Tiveram nove filhos, entre eles d. Pedro, futuro imperador do Brasil. Assumiu a regência do Reino em 1792, no impedimento da mãe que foi considerada incapaz. Um dos últimos representantes do absolutismo, d. João VI viveu num período tumultuado. Foi sob o governo do então príncipe regente que Portugal enfrentou sérios problemas com a França de Napoleão Bonaparte, sendo invadido pelos exércitos franceses em 1807. Como decorrência dessa invasão, a família real e a Corte lisboeta partiram para o Brasil em novembro daquele ano, aportando em Salvador em janeiro de 1808. Dentre as medidas tomadas por d. João em relação ao Brasil estão a abertura dos portos às nações amigas; liberação para criação de manufaturas; criação do Banco do Brasil; fundação da Real Biblioteca; criação de escolas e academias e uma série de outros estabelecimentos dedicados ao ensino e à pesquisa, representando um importante fomento para o cenário cultural e social brasileiro. Em 1816, com a morte de d. Maria I, tornou-se d. João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1821, retornou com a Corte para Portugal, deixando seu filho d. Pedro como regente.
[6] O termo “república” vem do latim res publica, que significa literalmente “coisa pública”, ou seja, o bem público, o que era comum a todos os cidadãos. Considerando-se a tipologia de Estado moderno, o termo República representa o oposto das concepções monárquicas de soberania: a primeira, embora compreenda uma grande variedade de formas de governo e organização de Estado, pauta-se pelo exercício do poder político baseado na escolha do povo e em especial, na não hereditariedade do exercício deste poder. Na monarquia, ao contrário, o soberano herda o direito de ocupar o mais alto cargo político em função da sua linhagem. No entanto, o termo República é bastante anterior às teorias de Estado modernas, sua origem reside na necessidade de os romanos definirem em termos apropriados uma nova realidade de organização do poder depois que a forma de exercício dos antigos reis encontrou seu fim. Expressava uma ideia semelhante à politeia grega, qual seja, o bem comum. Cícero e Políbio estão entre os primeiros a estruturar as discussões em torno da coisa pública em um conceito coerente, ressaltando a importância de leis comuns para que o bem comum fosse alcançado, contrapondo assim, a República aos estados (ou antes, as formas de associação política) “injustos” (ilegais, ilegítimos). Na Idade Moderna, o termo se tornou caro àqueles que buscavam derrubar as formas de organização política típicas do Antigo Regime. Enfatizando o caráter de legitimidade do governo (fosse ele monárquico, democrático, aristocrático), havia uma tendência à defesa de um estado de direito que preservasse o bem dos seus cidadãos, em contraposição ao despotismo de reis que só respeitava a sua própria vontade, por terem, recebido seu poder “diretamente de Deus”. Após as revoluções francesa e americana, no século XVIII, a definição de república passa por um sem número de discussões e reelaborações, em grande medida consequência das experiências práticas que se desenvolvem com o passar dos anos. Indissociável da ideia de república é a da constituição, na qual o direito deixa de ser expressão do poder real e se torna o espelho da nação organizada. Nesse sentido, e após a Revolução Francesa, o termo soberania deixará de designar a legitimidade dinástica, transferindo-se para a vontade popular (Cf. LAFER, C. O significado de República. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2. n. 4, 1989. http://bibliotecadigital. fgv.br/ojs/index.php/reh/article/download/2286/1425) A adoção de um governo republicano e a difusão dos princípios de liberdade, em um mundo no qual preponderavam governos absolutistas, passaram a ser vistos pelo mundo monárquico como os “abomináveis princípios franceses”. Ao lado da independência das treze colônias inglesas na América do Norte, que se libertaram do domínio metropolitano, tornando-se uma República, inspirariam, sobremaneira, movimentos anticoloniais. De todo modo, a noção mais antiga e abrangente de República, segundo a qual o Estado deveria expressar a vontade do povo, associada à construção de um novo pacto social, continuou a influenciar alguns movimentos políticos. No contexto do Brasil colonial, o conceito de República explicitava uma defesa não de um sistema de governo com maior participação popular, nem sequer, necessariamente, de um governo independente da metrópole, mas sim, de um governo mais justo entre os súditos do Reino e Ultramar. Ainda assim, considera-se que a seu modo, movimentos como a conjuração mineira de 1789 e a Revolução de 1817 guardaram a inspiração republicana, norte-americana, sem dúvida, e no último caso, francesa.
[7] 1o conde de Aguiar e 2o marquês de Aguiar, era filho de José Miguel João de Portugal e Castro, 3º marquês de Valença, e de Luísa de Lorena. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, ocupou vários postos na administração portuguesa no decorrer de sua carreira. Governador da Bahia, entre os anos de 1788 a 1801, passou a vice-rei do Estado do Brasil, cargo que exerceu até 1806. Logo em seguida, regressou a Portugal e tornou-se presidente do Conselho Ultramarino, até a transferência da corte para o Rio de Janeiro. A experiência adquirida na administração colonial valeu-lhe a nomeação, em 1808, para a Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil, pasta em que permaneceu até falecer. Durante esse período, ainda acumulou as funções de presidente do Real Erário e de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Foi agraciado com o título de conde e marquês de Aguiar e se casou com sua sobrinha Maria Francisca de Portugal e Castro, dama de d. Maria I. Dentre suas atividades intelectuais, destaca-se a tradução para o português do livro Ensaio sobre a crítica, de Alexander Pope, publicado pela Imprensa Régia, em 1810.
[8] Maria da Glória Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana, rainha de Portugal, sucedeu a seu pai, d. José I, no trono português em 1777. O reinado mariano, época chamada de Viradeira, foi marcado pela destituição e exílio do marquês de Pombal, muito embora se tenha dado continuidade à política regalista e laicizante da governação anterior. Externamente, foi assinalado pelos conflitos com os espanhóis nas terras americanas, resultando na perda da ilha de Santa Catarina e da colônia do Sacramento, e pela assinatura dos Tratados de Santo Ildefonso (1777) e do Pardo (1778), encerrando esta querela na América, ao ceder a região dos Sete Povos das Missões para a Espanha em troca da devolução de Santa Catarina e do Rio Grande. Este período caracterizou-se por uma maior abertura de Portugal à Ilustração, quando foi criada a Academia Real das Ciências de Lisboa, e por um incentivo ao pragmatismo inspirado nas ideias fisiocráticas — o uso das ciências para adiantamento da agricultura e da indústria de Portugal. Essa nova postura representou, ainda, um refluxo nas atividades manufatureiras no Brasil, para desenvolvimento das mesmas em Portugal, e um maior controle no comércio colonial, pelo incentivo da produção agrícola na colônia. Deste modo, o reinado de d. Maria I, ao tentar promover uma modernização do Estado, impeliu o início da crise do Antigo Sistema Colonial, e não por acaso, foi durante este período que a Conjuração Mineira (1789) ocorreu, e foi sufocada, evidenciando a necessidade de uma mudança de atitude frente a colônia. Diante do agravamento dos problemas mentais da rainha e de sua consequente impossibilidade de reger o Império português, d. João tornou-se príncipe regente de Portugal e seus domínios em 1792, obtendo o título de d. João VI com a morte da sua mãe no Brasil em 1816, quando termina oficialmente o reinado mariano.
[9] País situado na Península Ibérica, localizada na Europa meridional, cuja capital é Lisboa. Sua designação originou-se de uma unidade administrativa do reino de Leão, o condado Portucalense, cujo nome foi herança da povoação romana que ali existiu, chamada Portucale (atual cidade do Porto). Compreendido entre o Minho e o Tejo, o Condado Portucalense, sob o governo de d. Afonso Henriques, deu início às lutas contra os mouros (vindos da África no século VIII), das quais resultou a fundação do reino de Portugal no século XIII. Tornou-se o primeiro reino a constituir-se como Estado Nacional após a Revolução de Avis em 1385. A centralização política foi um dos fatores que levaram o reino a ser o precursor da expansão marítima e comercial europeia, constituindo vasto império com possessões na África, nas Américas e nas Índias ao longo dos séculos XV e XVI. Os séculos seguintes à expansão foram interpretados na perspectiva da Ilustração e por parte da historiografia contemporânea como uma lacuna na trajetória portuguesa, um desvio em relação ao impulso das navegações e dos Descobrimentos e que sobretudo distanciou os portugueses da Revolução Científica. Era o “reino cadaveroso”, dominado pelos jesuítas, pela censura às ideias científicas, pelo ensino da Escolástica. Para outros autores tratou-se de uma outra via alternativa, a via ibérica, sem a conotação do “atraso”. O século XVII é o da união das coroas de Portugal e Espanha, período que iniciado ainda em 1580 se estendeu até 1640 com a restauração e a subida ao trono de d. João IV. Do ponto de vista da entrada de novas ideias no reino deve-se ver que independente da perspectiva adotada há um processo, uma transição, que conta a partir da segunda metade do XVII com a influência dos chamados “estrangeirados” sob d. João V, alterando em parte o cenário intelectual e mesmo institucional luso. Um momento chave para a história portuguesa é inaugurado com a subida ao trono de d. José I e o início do programa de reformas encetado por seu ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal. Com consequências reconhecidas a longo prazo, no reino e em seus domínios, como se verá na América portuguesa, é importante admitir os limites dessa política, como adverte Francisco Falcon para quem “por mais importantes que tenham sido, e isso ir-se-ia tornar mais claro a médio e longo prazo, as reformas de todos os tipos que formam um conjunto dessa prática ilustrada não queriam de fato demolir ou subverter o edifício social” (A época pombalina, 1991, p. 489). O reinado de d. Maria I a despeito de ser conhecido como “a viradeira”, pelo recrudescimento do poder religioso e repressivo compreende a fundação da Academia Real de Ciências de Lisboa, o empreendimento das viagens filosóficas no reino e seus domínios, e assiste a fermentação de projetos sediciosos no Brasil, além da formação de um projeto luso-brasileiro que seria conduzido por personagens como o conde de Linhares, d. Rodrigo de Souza Coutinho. O impacto das ideias iluministas no mundo luso-brasileiro reverberava ainda os acontecimentos políticos na Europa, sobretudo na França que alarmava as monarquias do continente com as notícias da Revolução e suas etapas. Ante a ameaça de invasão francesa, decorrente das guerras napoleônicas e face à sua posição de fragilidade no continente, em que se reconhece sua subordinação à Grã-Bretanha, a família real transfere-se com a Corte para o Brasil, estabelecendo a sede do império ultramarino português na cidade do Rio de Janeiro a partir de 1808. A década de 1820 tem início com o questionamento da monarquia absolutista em Portugal, num movimento de caráter liberal que ficou conhecido como Revolução do Porto. A exemplo do que ocorrera a outras monarquias europeias, as Cortes portuguesas reunidas propõem a limitação do poder real, mediante uma constituição. Diante da ameaça ao trono, d. João VI retorna a Portugal, jurando a Constituição em fevereiro de 1821, deixando seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, d. Pedro proclamou a independência do Brasil, perdendo Portugal, sua mais importante colônia.
[10] A Intendência de Polícia foi uma instituição criada pelo príncipe regente d. João, através do alvará de 10 de maio de 1808, nos moldes da Intendência Geral da Polícia de Lisboa. A competência jurisdicional da colônia foi delegada a este órgão, concentrando suas atividades no Rio de Janeiro, sendo responsável pela manutenção da ordem, o cumprimento das leis, pela punição das infrações, além de administrar as obras públicas e organizar um aparato policial eficiente e capaz de prevenir as ações consideradas perniciosas e subversivas. Na prática, entretanto, a Polícia da Corte esteve também ligada a outras funções cotidianas da municipalidade, atuando na limpeza, pavimentação e conservação de ruas e caminhos; na dragagem de pântanos; na poda de árvores; aterros; na construção de chafarizes, entre outros. Teve uma atuação muito ampla, abrangendo desde a segurança pública até as questões sanitárias, incluindo a resolução de problemas pessoais, relacionados a conflitos conjugais e familiares como mediadora de brigas de família e de vizinhos, entre outras atribuições. O aumento drástico da população na cidade do Rio de Janeiro, e consequentemente, da população africana circulando nas ruas da cidade a partir de 1808, esteve no centro das preocupações das autoridades portuguesas, e nela reside uma das principais motivações para a estruturação da Intendência de Polícia que, ao contrário do que vinha ocorrendo no Velho Mundo, deu continuidade aos castigos corporais junto a uma parcela específica da população. Foi a estrutura básica da atividade policial no Brasil na primeira metade do século XIX, e apresentava um caráter também político, uma vez que vigiava de perto as classes populares e seu comportamento, com ou sem conotação ostensiva de criminalidade. Um dos traços mais marcantes da manutenção desta ordem política, sobreposta ao combate ao crime, se expressa em sua atuação junto à população negra – especialmente a cativa – responsabilizando-se inclusive pela aplicação de castigos físicos por solicitação dos senhores, mediante pagamento. O primeiro Intendente de Polícia da Corte foi Paulo Fernandes Vianna, que ocupou o cargo de 1808 até 1821, período em que organizou a instituição. Subordinava-se diretamente a d. João VI, e a ele prestava contas através dos ministros. Durante o período em que esteve no cargo, percebe-se que muitas funções exercidas pela Intendência ultrapassavam sua alçada, em especial àquelas relacionadas à ordem na cidade e às despesas públicas, por vezes ocasionando conflitos com o Senado da Câmara. Desde a sua criação, a Intendência manteve uma correspondência regular com as capitanias, criando ainda o registro de estrangeiros.
[11] Provavelmente refere-se ao vinho que o intendente estaria supostamente tomando, podendo referir-se a um tipo de vinho bastante popular em Portugal, o vinho verde, ou seja, um vinho que não passa por processo de envelhecimento, ou pode estar se referindo ao vinho como produto “molhado” ou verde, portanto, perecível. Os produtos molhados por excelência eram o vinho, o azeite, a carne verde (ou seja, fresca e não salgada) e derivados do leite.
[12] Neste contexto é o mesmo que estalagem, uma pousada. Nota-se apenas que a casa de pouso poderia se referir a uma casa de moradia de particular que servia de pouso (repouso) a viajantes, ou a que estes recorressem caso não tivessem um lugar para pousar por uma noite, não sendo necessariamente um negócio.
[13] Presente em quase todos os exércitos do mundo, o posto de alferes designou originalmente aquele que levava o estandarte militar. Existiu no Brasil até 1905 e corresponde, atualmente, a patente de segundo-tenente ou subtenente. Na estrutura militar portuguesa transposta para a América e dividida em três forças, encontra-se sempre o alferes, oficial de baixa patente acima dos sargentos, ao qual pardos e mulatos aspiraram ser aceitos no período colonial. O posto se notabilizou na história brasileira graças à participação na Conjuração Mineira de Joaquim José da Silva Xavier conhecido como Tiradentes.
[14] Campo de Santana, Campo da Cidade, Jardim da Aclamação, Praça da República, foram diversos os nomes recebidos por essa região do Rio de Janeiro, próxima à atual estação Estrada de Ferro Central do Brasil, que delimita o centro da cidade a Oeste. Bem como foram diversos também os usos dados à região: no século XVII, parte do grande Mangal de São Diogo, como era conhecido o terreno alagado, fora dos limites da cidade, que iam até a antiga rua da Vala (atual Uruguaiana), era usado para despejo de lixo e dejetos dos habitantes; ao longo do XVIII conheceu os primeiros aterramentos, à medida que a cidade crescia naquela direção e ainda era um descampado, frequentado por livres e pobres, por escravos, e por irmandades religiosas. Foi usado como jardim de aclimatação de plantas exóticas à flora brasileira e como pasto de bois – as primeiras amoreiras introduzidas no Rio para a criação do bicho da seda foram plantadas no campo de Santana, e comidas pelos bois que lá pastavam. Foi no início do século XIX que o Campo ganhou ares de parque, principalmente depois da Aclamação de d. Pedro I, que lá aconteceu com mobiliário e arquitetura provisórios, desenhados por Jean-Baptiste Debret e construídos para a ocasião. Já com algumas igrejas no entorno, a região era palco da festa de Santana, da grande festa do Divino Espírito Santo, e dos santos, atraindo multidões até hoje no dia de São Jorge (23 de abril). Na década de 1870, d. Pedro II contratou o renomado paisagista francês Auguste Glaziou para reformular o Campo nos moldes de um jardim inglês – desenho que até hoje conserva – com a construção de cascatas, lagos, grutas e até pedras artificiais, inaugurado pelo imperador em 1880. Foi testemunha anos depois da Proclamação da República, já que o marechal Deodoro da Fonseca, aclamado primeiro presidente, residia no entorno e a parada militar que marcou o advento da República deu-se no Campo. Teve seu tamanho bastante reduzido com a construção da avenida Presidente Vargas nos anos 1940, quando passou por um curioso caso de destombamento, para poder ser diminuído e substituído pela grande nova via. Reinaugurado, em 1945 recebeu a estátua em homenagem a Benjamim Constant, celebrando a República, que até hoje se encontra no centro do parque, que é uma ilha de verde no centro da grande metrópole.
Expulsão de meretrizes
Ofício expedido pelo comandante do distrito de Simão Pereira, José Pinto de Souza, dando ciência ao intendente de Polícia da Corte, Paulo Fernandes Viana, do comportamento inadequado de três “meretrizes” no distrito de Simão Pereira, conforme denunciado pelo vigário local. Solicitava que elas fossem despejadas da região onde habitavam, e caso não obedecessem ao prazo estabelecido para saírem, pede que se ordene que elas fossem presas na cadeia de Barbacena.
Conjunto documental: Registro de ofícios expedidos da Polícia para o governo das armas da Corte, Marinha e mais patentes militares e ordenanças
Notação: cód. 326, vol. 3
Datas-limite: 1818-1822
Título do fundo: Polícia da Corte
Código do fundo: ØE
Argumento de pesquisa: criminalidade
Data do documento: 15 de janeiro de 1819
Local: Rio de Janeiro
Folha(s): 14v
Registro do ofício expedido ao comandante do distrito de Simão Pereira
Tendo-me representado o reverendo vigário Caetano Gomes de Santa Rita os males morais, e prejuízos que causam nesse distrito com a depravação de seus costumes, e escandalosa conduta de três meretrizes [1] Maria Ribeira, Joaquina, e Rosa, e outras companheiras, que residem desde o lugar denominado = as [ilegível] = até o moinho, como tudo melhor consta do seu requerimento incluso ordeno a Vossa Mercê, que logo que receber esta faça a notificar as sobreditas para despejarem do distrito dessa freguesia no termo peremptório de três dias, e não cumprindo prenda Vossa Mercê todas as que desobedecerem, e a minha ordem as remeta a prisão da cadeia[2] de Barbacena[3] dando-me logo parte de assim o haver cumprido para que eu possa dar providências posteriores ao ouvidor[4] dessa comarca = Deus Guarde a Vossa Mercê. Rio de Janeiro de 1819 = Paulo Fernandes Viana[5] = Senhor José Pinto de Souza comandante do distrito de Simão Pereira.
[1] Nas sociedades primitivas, a ausência de obstáculos à sexualidade tornava desnecessária a configuração de qualquer forma de prostituição. Esta seria, portanto, constitutiva do processo de socialização das civilizações antigas, com o surgimento da propriedade privada e o estabelecimento da monogamia e da sociedade patriarcal, fundada na subordinação das mulheres, públicas ou privadas, pela família, respaldada na figura do homem. Foi nas civilizações avançadas da Antiguidade que a prostituição se desenvolveu sob a forma tipicamente comercializada. No Brasil, a prática foi uma constante no período colonial. As primeiras prostitutas desembarcaram na América portuguesa ainda no primeiro século da colonização, estimuladas pelo Coroa portuguesa, que buscava, com a vinda de mulheres brancas, barrar a crescente mestiçagem entre homens brancos e indígenas. Prática tolerada na sociedade colonial, foram úteis para a valorização e consolidação do seu oposto: as mulheres “puras” ditas moças de família. Tornou-se uma forma de trabalho tanto para as mulheres que procuravam garantir sua sobrevivência, quanto para os senhores de escravos que exploravam sexualmente as cativas. O ato de prostituir-se não era considerado uma atividade criminosa no Brasil colonial, no entanto, alguns preceitos básicos deveriam ser respeitados, como não manter relações com outras mulheres ou parentes, não induzir que uma filha também se prostituísse e, ainda, não abandonar o caráter esporádico das relações, evitando gerar uma acusação de concubinato. As prostitutas, circulando livremente pelos logradouros e recebendo homens em suas casas, viviam uma realidade diretamente oposta à das mulheres ditas honradas, que aguardavam pelo casamento.
[2] O sistema prisional, baseado no encarceramento diferenciado e delimitado por penas variáveis, aparece no mundo contemporâneo (ou, pelo menos, na maior parte dele) como concretização de sanções impostas a indivíduos que quebram as regras estabelecidas. Na realidade, a privação da liberdade e o isolamento como punição em si – e também reeducação – surgiu na Europa. Não há registros na Antiguidade, por exemplo, do uso punitivo do encarceramento, utilizado na época como detenção temporária do suspeito até que a punição final fosse imposta, após julgamento. O banimento, a infâmia, a mutilação, a morte e a expropriação eram as penas mais recorrentes. Na Idade Média, o cenário era semelhante. O crescimento populacional, a urbanização e as graves crises de fome que marcaram a Idade Moderna resultaram em aumento de criminalidade e em revolta social, movimentos estes que, às vezes, se sobrepunham. Diante dessa situação, as penas cruéis e a própria pena de morte, aplicadas em público, utilizadas na Idade Média em resposta a crimes frívolos (roubar um pão, ofender o senhorio, blasfemar), deixaram de ser adequadas, posto que poderiam facilmente causar um levante popular. Além disso, cada vez mais se considerava o espetáculo bizarro das punições públicas uma afronta ao racionalismo e ao humanismo que marcaram o século XVIII. Se no Antigo Regime o sistema penal se baseava mais na ideia de castigo do que na recuperação do preso, no século XVIII se intensificam as tentativas, esboçadas no século anterior, de transformar as velhas masmorras, cárceres e enxovias infectas e desordenadas, onde se amontoavam criminosos, em centros de correção de delinquentes. Em boa parte do mundo, entretanto, tais ideias demorariam a sair do papel. No Brasil, no início do século XIX, muitas fortalezas funcionaram como prisões para corsários, amotinados e, algumas vezes, para criminosos comuns. Na maior parte do vasto território da colônia, as cadeias eram administradas pelas câmaras municipais e, geralmente, localizavam-se ao rés do chão das mesmas, ou nos palácios de governo. A tortura, meio de obtenção de informações conforme previsto pelas Ordenações Filipinas, era utilizada tanto em casos de prisão por motivos religiosos, quanto em prisioneiros comuns. As cadeias não passavam de infectos depósitos de pessoas do todo o tipo: desde pessoas livres, já condenadas ou sofrendo processo, até suspeitos de serem escravos fugidos, prostitutas, indígenas, loucos, vagabundos. Proprietários, homens ricos e influentes e funcionários da Coroa permaneciam em um ambiente separado. Para os escravos, havia uma cadeia denominada Calabouço, embora também fossem encerrados em outros estabelecimentos.
[3] A vila de Barbacena, antes arraial da Igreja Nova de Campolide, foi fundada em 1791, embola o povoamento existisse desde pelo menos o início do século XVIII, no entorno do rio das Mortes, da fazenda Borda do Campo e do caminho novo das Minas para o Rio de Janeiro. Essa fazenda, de propriedade do inconfidente José Aires Gomes foi tomada pelo Fisco depois da sentença de degredo para a vida em Angola imputada ao dono e sua família. A vila de Barbacena tinha vocação agrícola e pecuarista desde a época da extração do ouro e diamantes, mas começou a prosperar e crescer em produção e população depois de a produção mineral ter entrado em declínio, no início do XIX, abastecendo de alimentos e carnes além da própria Comarca do Rio das Mortes, também o Rio de Janeiro. O Termo de Barbacena compreendia os distritos da vila de Barbacena, do Engenho do Mato, de Ibitipoca e de Simão Pereira.
[4] O cargo de ouvidor foi instituído no Brasil em 1534, como a principal instância de aplicação da justiça, atuando nas causas cíveis e criminais, bem como na eleição dos juízes e oficiais de justiça (meirinhos). Até 1548, a função de justiça, entendida em termos amplos, de fazer cumprir as leis, de proteger os direitos e julgar, era exclusiva dos donatários e dos ouvidores por eles nomeados. Neste ano foi instituído o governo-geral e criado o cargo de ouvidor-geral, limitando-se o poder dos donatários, sobretudo em casos de condenação à morte, entre outros crimes, e autorizando a entrada da Coroa na administração particular, observando o cumprimento da legislação e inibindo abusos. Cada capitania possuía um ouvidor, que julgava recursos das decisões dos juízes ordinários, entre outras ações. O ouvidor-geral, por sua vez, julgava apelações dos ouvidores e representava a autoridade máxima da justiça na colônia. Sua nomeação era da responsabilidade do rei, com a exigência de que o nomeado fosse letrado. Dentre as suas muitas atribuições, cabia-lhe informar ao rei do funcionamento das câmaras e, caso fosse necessário, tomar qualquer providência de acordo com o parecer do governador-geral. Ao longo do período colonial, o cargo de ouvidor sofreu uma série de especializações em função das necessidades administrativas coloniais. Dentre os cargos instituídos a partir de então, podemos citar o de ouvidor-geral das causas cíveis e crimes em 1609 (quando da criação da Relação do Brasil, depois desmembrada em Relação da Bahia e do Rio de Janeiro); o de ouvidor-geral do Maranhão em 1619, quando há a criação do Estado do Maranhão; e o de ouvidor-geral do sul em 1608, quando foi criada a Repartição do Sul.
[5] Nascido no Rio de Janeiro, Paulo Fernandes Viana era filho de Lourenço Fernandes Viana, comerciante de grosso trato, e de Maria do Loreto Nascente. Casou-se com Luiza Rosa Carneiro da Costa, da eminente família Carneiro Leão, proprietária de terras e escravos que teve grande importância na política do país já independente. Formou-se em Leis em Coimbra em 1778, onde exerceu primeiro a magistratura, e no final do Setecentos foi intendente do ouro em Sabará. Desembargador da Relação do Rio de Janeiro (1800) e depois do Porto (1804), e ouvidor-geral do crime da Corte foi nomeado intendente geral da Polícia da Corte pelo alvará de 10 de maio de 1808. De acordo com o alvará, o intendente da Polícia da Corte do Brasil possuía jurisdição ampla e ilimitada, estando a ele submetidos os ministros criminais e cíveis. Exercendo este cargo durante doze anos, atuou como uma espécie de ministro da ordem e segurança pública. Durante as guerras napoleônicas, dispensou atenção especial à censura de livros e impressos, com o intuito de impedir a circulação dos textos de conteúdo revolucionário. Tinha sob seu controle todos os órgãos policiais do Brasil, inclusive ouvidores gerais, alcaides maiores e menores, corregedores, inquiridores, meirinhos e capitães de estradas e assaltos. Foi durante a sua gestão que ocorreu a organização da Guarda Real da Polícia da Corte em 1809, destinada à vigilância policial da cidade do Rio de Janeiro. Passado o período de maior preocupação com a influência dos estrangeiros e suas ideias, Fernandes Viana passou a se ocupar intensamente com policiamento das ruas do Rio de Janeiro, intensificando as rondas nos bairros, em conjunto com os juízes do crime, buscando controlar a ação de assaltantes. Além disso, obrigava moradores que apresentavam comportamento desordeiro ou conflituoso a assinarem termos de bem viver – mecanismo legal, produzido pelo Estado brasileiro como forma de controle social, esses termos poderiam ser por embriaguez, prostituição, irregularidade de conduta, vadiagem, entre outros. Perseguiu intensamente os desordeiros de uma forma geral, e os negros e os pardos em particular, pelas práticas de jogos de casquinha a capoeiragem, pelos ajuntamentos em tavernas e pelas brigas nas quais estavam envolvidos. Fernandes Viana foi destituído do cargo em fevereiro de 1821, por ocasião do movimento constitucional no Rio de Janeiro que via no intendente um representante do despotismo e do servilismo colonial contra o qual lutavam. Quando a Corte partiu de volta para Portugal, Viana ficou no país e morreu em maio desse mesmo ano. Foi comendador da Ordem de Cristo e da Ordem da Conceição de Vila Viçosa, seu filho, de mesmo nome, foi agraciado com o título de barão de São Simão.
Boticário contra a esposa adúltera
Requerimento de Manoel Gonçalves Vale da graça real de que sua ex-esposa fosse condenada a viver enclausurada em algum local bem distante da Corte e de onde ele estivesse. Maria Teodora, com quem teve filhos, o traiu, tendo tido outras crianças fora do casamento (incluindo um gerado durante um período em que estava recolhida à Santa Casa de Misericórdia), e também se prostituiu com caixeiros e cirurgiões, entre outros. Chegou a ser presa, além de recolhida, por ordem do marido, mas tornou a reincidir em suas faltas, chegando mesmo a tentar matar Manoel por duas vezes, quase sendo bem-sucedida. Por esses crimes – adultério, prostituição, tentativa de assassinato – havia sido degredada para Santa Catarina, escapando da pena de morte, mas estava de volta. O marido suplicava que ela fosse e ficasse em algum lugar bastante longe para que ele pudesse viver o restante de seus dias sem medo, em tranquilidade.
Conjunto documental: Ministério dos Negócios do Brasil, Ministério dos Negócios do Reino, Ministério dos Negócios do Reino e Estrangeiros, Ministério dos Negócios do Império e Estrangeiros. Instituições policiais
Notação: 6J-83
Datas-limite: 1816-1817
Título do fundo: Diversos GIFI
Código do fundo: OI
Argumento de pesquisa: criminalidade
Data do documento: [1816]
Local: s.l.
Folha(s): -
Diz Manoel Gonçalves Vale boticário[1] morador na Rua da Quitanda[2] desta Corte[3], que contraindo matrimônio[4] com Maria Teodora, com quem coabitou, e de quem teve alguns filhos; veio o suplicante ao cabo de anos no fatal conhecimento de haver a dita sua mulher traído a honra, e fé conjugal com tão licenciosa, e desenfreada paixão, que depois de se prostituir[5] aos próprios caixeiros[6], cirurgiões[7], e outros instrumentos da sua torpeza, que até chegou a introduzir nas mesmas casas de correção[8], que o suplicante destinou; como foi no Recolhimento[9] do Taipu, de onde fugiu, e veio para esta Corte entregar-se a toda a sorte de devassidão, e de sendo dali removida para a Santa Casa da Misericórdia[10]; ali pariu [e novamente] reincidiu, violando a clausura deste piedoso asilo, pelo ingresso que facilitou a um Frutuoso Maria Velho, de quem [pela] segunda vez emprenhou e por cujo fato sendo expulsa da santa casa, e conduzida a cadeia[11], ali também pariu: passou ainda esta furiosa a acrescentar a infâmia e a desonra o assassínio, e a total ruína do suplicante atentando atraiçoada, [ilegível] contra a sua vida, já pela [propinação] de veneno em caldos de galinha, de cujo laço se livrou o suplicante pelo conhecimento da sua arte, e profissão, já pelo violento meio de um tiro de pistola, de que por milagre escapou, mas cujas cicatrizes ainda em seu peito recentes provam a existência do crime[12], e a [pretensa] intenção do assassino; já por meio de soldados, que assalariou para pôr em execução tão atrás, e malvado projeto; e já finalmente pondo ela mesma fogo a sua própria casa, de que a providência libertou o suplicante sujeito por amor de uma mulher perdida, a tantos males e desgraças.
Deu por consequência o suplicante sua querela contra a suplicada, e o adultério[13] violado da clausura, [aquele] prosseguiu até [sentença] final no juízo da comarca do crime da cidade e casa onde sendo de esperar, que a vista das evidentíssimas provas deste crime se = impusessem aos réus, não já a pena de morte[14] natural, que a lei positivamente determina mas ao menos a de morte cível[15], que a equipara, e que a gravidade de tantos, e tão qualificados crimes exigia: não sucedeu assim, Real Senhor; porque penetrado os juízes de uma equidade mal entendida, mas todavia convencidos da existência do crime, condenaram apenas a suplicada em oito anos de degredo[16] para Santa Catarina[17] e ao adultério em dez para os Estados da Índia[18]; arrogando-se deste modo e a autoridade de modificarem a seu arbítrio a pena da lei, [quando] sendo ela como é neste caso expressa em direito, só a Vossa e Majestade imediatamente pertencia [interpretá-la] ou modificá-la; mas não aos juízes da causa, que não podendo ser mais benignos, que a lei nem estender o seu arbítrio além da verificação das provas, logo que julgaram provado o crime, deviam necessariamente aplicar-lhe a sua ordinária, e correspondente pena, e não a que extraordinariamente impuseram [ilegível] com os especiosos argumentos [expedidos] no acórdão [...] 22 [...], depois de reconhecerem no outro acórdão de [...] 21 [...] do documento junto, a suplicada adúltera legitimamente convencida do crime, de que fora arguida.
Seria pois, Senhor este caso em que o recurso de revista de graça especial – sempre patente ao Real Trono – teria o seu devido e competente lugar afim de mandar rever o feito, e mandar-se uma sentença tão nula, como injusta, por ser proferida contra direito expresso, e com notório excesso de jurisdição.
Mas longe de pretender esta graça, o suplicante não se dirige a Real Presença de Vossa Majestade[19] a outro fim mais, do que a acolher-se debaixo da Sua Real Proteção para que tomando Vossa Majestade na mais séria consideração infeliz situação, a que se acha reduzido; se digne ocorrer a iminente desgraça que o espera a ser abreviados os seus dias entregue às ganas da mais cruel de todas as feras, as mãos de uma infame que de mulher não tem se não a figura, e de uma perversa, que não satisfeita de trair a honra do suplicante pela violação do tálamo conjugal, não cessará jamais de maquinar atraiçoadamente contra a sua existência.
Sim Real Senhor, este monstro de luxúria e de torpeza, findo que seja o degredo de oito anos, que em crime tão atrás, lhe foi apenas [comutado]; nada obsta a que reverta para esta corte; e aqui vem mencionar o contínuo [...], e ignomínia de por sua mulher continuar impunemente a mais dissoluta e desenfreada devassidão, ele tem mais que tudo, que um temerário, como ela tem tão perverso, e por ela seduzido com promessas de um futuro mais feliz, ousem atentar [...] contra a sua vida para que consumados seus pérfidos intentos venha uma assassina a gozar em prêmio de seus enormes crimes o fruto de seu suor, e das suas fadigas entrando para sua morte na posse da meação do seu casal, de cujo direito nem menos foi privada na favorável sentença que obteve.
Tal é pois, Augusto, o Soberano Senhor, o justo receio que obriga o desgraçado suplicante a recorrer em tão pungentes e apertadas circunstâncias a Real e Indefectível clemência de Vossa majestade para que lançando piedosas vistas sobre a sua triste desgraçada sorte se digne pelo menos conceder-lhe uma Real Segurança da sua vida, apartando do lugar da sua existência aquele monstro de maldade, aquela torpe, e infame assassina, que depois de ser o eterno o [...] da sua família e a causa dos males, que padece, só com a morte que de muito tempo lhe tem jurado, satisfará aos sedentos desejos em que arde, de lhe beber o próprio sangue. Prostrado por tanto o suplicante aos pés do Real Trono.
Humildemente roga, e implora a graça [20] de Vossa Majestade por um efeito da sua Real, e Incomparável justiça e retidão se digne determinar uma clausura distante desta corte, onde seja reclusa a suplicada para que removida a ocasião do pecado, e privada dos meios de correr [ilegível] da sua perdição eterna possa o suplicante viver tranquilo os poucos dias que lhe restam e sem ao menos passar pela vergonha de ser testemunha ocular dos seus deboches e devassidões; obrigando-se entre tanto o suplicante a contribuir com as necessários alimentos para sua cômoda e decente sustentação. Tanta é pois a especialíssima graça que firmemente espera merecer da Real Grandeza e Incomparável clemência, justiça e retidão de Vossa e Majestade.
Manoel Gonçalves Vale
[1816]
[1] Restabelecer a saúde de um doente administrando e criando medicamentos foi, durante muito tempo, função de uma mesma pessoa. Foi no século VIII que a obtenção de remédios para a cura dos doentes deixou de ser uma atividade dos médicos, atribuindo-se aos boticários a manipulação de substâncias nas boticas, além de aviar receitas médicas. Para exercerem suas funções, os boticários necessitavam de licenças expedidas pela fisicatura-mor (1808-1828), órgão que regulamentava todas as atividades médicas. Diogo de Castro foi o primeiro boticário a chegar ao Brasil vindo de Portugal, em 1549, na comitiva do governador-geral Tomé de Souza, composta entre outras pessoas, por seis jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, e de um físico e cirurgião da expedição, Jorge Valadares. De início, os medicamentos preparados vinham da metrópole, porém chegavam irregularmente e, com frequência, estragados devido à demora na viagem. A solução para os problemas de saúde na colônia residia, então, na manipulação de raízes, folhas e sementes da flora brasileira, respaldada no conhecimento dos índios para aplicação terapêutica das plantas medicinais. Os jesuítas, no seu trabalho de catequese, se dedicaram ao aprendizado manipulação de matérias primas nativas para obtenção de remédios que curassem as doenças próprias da região dos trópicos. Tal fato também contribuiu para o empenho dos jesuítas em aprender a transformar em medicamento o que as plantas nativas ofereciam, mesclando os conhecimentos médicos europeus com aqueles obtidos com os indígenas. De certa forma, os jesuítas foram os primeiros boticários e nos seus colégios criaram-se as primeiras boticas, onde o povo encontrava os medicamentos para alívio dos seus males. Foram instaladas sob a direção dos padres boticas na Bahia, Olinda, Recife, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo. A mais importante foi a da Bahia, por se tornar um centro distribuidor para as demais.
[2] Anteriormente conhecida como rua do Açougue Velho, rua da Quitanda Velha, ou da Quitanda dos Pretos, ou da Quitanda dos Mariscos, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, fazia a comunicação entre a Prainha (região da atual Praça Mauá) e o bairro da Misericórdia. Recebeu este nome pela existência de uma grande feira aberta, semelhante a uma quitanda, em um trecho da rua. Foi nesta via que ocorreu o pagamento do resgate oferecido pela cidade ao corso francês Duguay-Trouin em 1711 e o episódio conhecido como "Noite das Garrafadas" em 1831 – conflito entre brasileiros e portugueses que antecedeu a abdicação de d. Pedro I ao trono. Nessa importante rua do centro da cidade, estabeleceram-se, entre outros: a sede da tipografia dos irmãos Laemmert; a Loteria da Santa Casa da Misericórdia; a primeira Escola Homeopática (1844); a primeira sede da Academia Brasileira de Letras; o Gabinete Inglês de Leitura e o Clube Militar. Foi também o endereço de inúmeros jornais, como O Mequetrefe e o Correio Mercantil.
[3] A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada tendo como marco de referência uma invasão francesa. Em 1555, a expedição do militar Nicolau Durand de Villegaignon conquista o local onde seria a cidade e cria a França Antártica. Os franceses, aliados aos índios tamoios confederados com outras tribos, foram expulsos em 1567 por Mem de Sá, cujas tropas foram comandadas por seu sobrinho Estácio de Sá, com o apoio dos índios termiminós, liderados por Arariboia. Foi Estácio que estabeleceu “oficialmente” a cidade e iniciou, de fato, a colonização portuguesa na região. O primeiro núcleo de ocupação foi o morro do Castelo, onde foram erguidos o Forte de São Sebastião, a Casa da Câmara e do governador, a cadeia, a primeira matriz e o colégio jesuíta. Ainda no século XVI, o povoamento se intensifica e, no governo de Salvador Correia de Sá, verifica-se um aumento da população no núcleo urbano, das lavouras de cana e dos engenhos de açúcar no entorno. No século seguinte, o açúcar se expande pelas baixadas que cercam a cidade, que cresce aos pés dos morros, ainda limitada por brejos e charcos. O comércio começa a crescer, sobretudo o de escravos africanos, nos trapiches instalados nos portos. O ouro que se descobre nas Minas Gerais do século XVIII representa um grande impulso ao crescimento da cidade. Seu porto ganha em volume de negócios e torna-se uma das principais entradas para o tráfico atlântico de escravos e o grande elo entre Portugal e o sertão, transportando gêneros e pessoas para as minas e ouro para a metrópole. É também neste século, que a cidade vive duas invasões de franceses, entre elas a do célebre Duguay Trouin, que arrasa a cidade e os moradores. Desde sua fundação, esta cidade e a capitania como um todo desempenharam papel central na defesa de toda a região sul da América portuguesa, fato demonstrado pela designação do governador do Rio de Janeiro Salvador de Sá como capitão-general das capitanias do Sul (mais vulneráveis por sua proximidade com as colônias espanholas), e pela transferência da sede do vice-reinado, em Salvador até 1763, para o Rio de Janeiro quando a parte sul da colônia tornou-se centro de produção aurífera e, portanto, dos interesses metropolitanos. Ao longo do setecentos, começam os trabalhos de melhoria urbana, principalmente no aumento da captação de água nos rios e construção de fontes e chafarizes para abastecimento da população. Um dos governos mais significativos deste século foi o de Gomes Freire de Andrada, que edificou conventos, chafarizes, e reformou o aqueduto da Carioca, entre outras obras importantes. Com a transferência da capital, a cidade cresce, se fortifica, abre ruas e tenta mudar de costumes. Um dos responsáveis por essas mudanças foi o marquês do Lavradio, cujo governo deu grande impulso às melhorias urbanas, voltando suas atenções para posturas de aumento da higiene e da salubridade, aterrando pântanos, calçando ruas, construindo matadouros, iluminando praças e logradouros, construindo o aqueduto com vistas a resolver o problema do abastecimento de água na cidade. Lavradio, cuja administração se dá no bojo do reformismo ilustrado português (assim como de seu sucessor Luís de Vasconcelos e Souza), ainda criou a Academia Científica do Rio de Janeiro. Foi também ele quem erigiu o mercado do Valongo e transferiu para lá o comércio de escravos africanos que se dava nas ruas da cidade. Importantíssimo negócio foi o tráfico de escravos trazidos em navios negreiros e vendidos aos fazendeiros e comerciantes, tornando-se um dos principais portos negreiros e de comércio do país. O comércio marítimo entre o Rio de Janeiro, Lisboa e os portos africanos de Guiné, Angola e Moçambique constituía a principal fonte de lucro da capitania. A cidade deu um novo salto de evolução urbana com a instalação, em 1808, da sede do Império português. A partir de então, o Rio de Janeiro passa por um processo de modernização, pautado por critérios urbanísticos europeus que incluíam novas posturas urbanas, alterações nos padrões de sociabilidade, seguindo o que se concebia como um esforço de civilização. Assume definitivamente o papel de cabeça do Império, posição que sustentou para além do retorno da Corte, como capital do Império do Brasil, já independente.
[4] A regulamentação eclesiástica do casamento deu-se a partir do Concílio de Trento (1545-1563) e consistia em um contrato de fidelidade carnal entre um homem e uma mulher para fins de procriação. Durante o período colonial cabia estritamente à Igreja a celebração do matrimônio. A partir do século XIX, a relação entre Estado e Igreja tornara-se alvo de críticas e atividades que, anteriormente, eram exercidas pela Igreja, como a administração de hospitais, cemitérios, orfanatos, escolas, passaram a ser reivindicadas pelo Estado, assim como o casamento. Assim, a cerimônia passaria a ser feita por escritura pública, lavrada por um tabelião e assinada por testemunhas. Isto indica que a troca de votos verbais, perante uma autoridade eclesiástica, já se tornara insuficiente, sendo necessário um documento legal para o controle ou a garantia das responsabilidades estabelecidas no contrato nupcial. Este acordo constituía uma das formas de alianças, frequentemente motivadas por interesses políticos e econômicos.
[5] Nas sociedades primitivas, a ausência de obstáculos à sexualidade tornava desnecessária a configuração de qualquer forma de prostituição. Esta seria, portanto, constitutiva do processo de socialização das civilizações antigas, com o surgimento da propriedade privada e o estabelecimento da monogamia e da sociedade patriarcal, fundada na subordinação das mulheres, públicas ou privadas, pela família, respaldada na figura do homem. Foi nas civilizações avançadas da Antiguidade que a prostituição se desenvolveu sob a forma tipicamente comercializada. No Brasil, a prática foi uma constante no período colonial. As primeiras prostitutas desembarcaram na América portuguesa ainda no primeiro século da colonização, estimuladas pelo Coroa portuguesa, que buscava, com a vinda de mulheres brancas, barrar a crescente mestiçagem entre homens brancos e indígenas. Prática tolerada na sociedade colonial, foram úteis para a valorização e consolidação do seu oposto: as mulheres “puras” ditas moças de família. Tornou-se uma forma de trabalho tanto para as mulheres que procuravam garantir sua sobrevivência, quanto para os senhores de escravos que exploravam sexualmente as cativas. O ato de prostituir-se não era considerado uma atividade criminosa no Brasil colonial, no entanto, alguns preceitos básicos deveriam ser respeitados, como não manter relações com outras mulheres ou parentes, não induzir que uma filha também se prostituísse e, ainda, não abandonar o caráter esporádico das relações, evitando gerar uma acusação de concubinato. As prostitutas, circulando livremente pelos logradouros e recebendo homens em suas casas, viviam uma realidade diretamente oposta à das mulheres ditas honradas, que aguardavam pelo casamento.
[6] O termo caixeiro englobava diversos tipos de atividades ligadas ao comércio, desde o vendedor que ficava atrás do balcão nas lojas de varejo de secos e molhados, até os grandes guarda-livros, responsáveis pela escrituração mercantil das grandes casas de comércio, passando por aqueles que são os mais populares no imaginário popular, a figura do vendedor de porta em porta, ou revendedor de produtos “finos” onde não havia casas de comércio que atendessem. Quando a Junta do Comércio foi criada em Portugal durante o período pombalino, a atividade adquiriu um status profissional mais específico, principalmente quando aos caixeiros foi permitida a possibilidade de cursar as Aulas de Comércio. Isso também se deu no Brasil, a partir de 1808 quando a Junta do Comércio do Rio de Janeiro foi criada e passou-se a fazer o registro dos caixeiros e guarda-livros. Os assim registrados tinham um estatuto social e profissional mais alto do que os pequenos varejistas, sem registro e sem instrução própria. Para as famílias de comerciantes de grosso trato, o posto de caixeiro como guarda-livros era um trabalho de iniciação nos negócios familiares, uma forma de começar a carreira mercantil e conhecer os ofícios do comércio. Para muitos outros, entretanto, o trabalho era mais pesado e menos prestigioso, muitos vivendo como dependentes e agregados das firmas, patrões e famílias para as quais serviam. (Ver SILVA, Maria Beatriz Nizza. “Caixeiro”. Dicionário da história da colonização portuguesa no Brasil. Lisboa, São Paulo: editorial Verbo, 1994, p. 123.)
[7] A cirurgia vem de uma longa tradição científica que nos séculos XVII e XVIII podia ser localizada no tratado árabe “O método da medicina”, de Albucasis, (936-1013) traduzido em latim e largamente disseminado na Idade Média. Na França a cirurgia teria sido o campo mais radicalmente transformado no século das Luzes, como escreve Alain Touwaide (Chirurgie. In: Delon, M. Dictionnaire européen des Lumières, 1997). É nesse período que os cirurgiões conquistam o respeito dos médicos e que a cirurgia se torna, nas universidades, um instrumento de investigação do corpo e da própria doença. Os cirurgiões distinguiam-se dos médicos, havendo diferenças entre eles, como em Portugal onde eram divididos em três tipos, os diplomados, aprovados e barbeiros, segundo a formação e local de aprendizagem, como hospitais militares, misericórdias ou outros hospitais, como explica Lycurgo Santos Filho (Cirurgiões. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza. Dicionário da história da colonização portuguesa no Brasil, 1994). Predominaram no Brasil e em Portugal os cirurgiões-barbeiros, acolhidos como aprendizes pelos mestres cirurgiões. Ainda de acordo com Santos Filho, nos séculos XVI e XVII os cirurgiões eram quase todos cristãos novos, quase sempre perseguidos pelo Santo Ofício por práticas judaizantes, mas que dada sua especialidade chegaram a postos de destaque na sociedade colonial, como assinala Ronaldo Vainfas (Cf. Cirurgiões. In: Dicionário do Brasil colonial, 1500-1808, 2001). Nos séculos seguintes os cirurgiões na América portuguesa foram muitas vezes negros, escravizados ou não, além dos classificados como brancos ou mulatos. Cabia-lhes sangrar, aplicar bichas ou ventosas, escalda-pés, banhos, arrancar dentes, e, cortar cabelo e fazer a barba. Sem que tivessem autorização para tal, procediam a amputações e lancetavam abscessos diz Lycurgo S. Filho. A cirurgia seguiria dividida entre aqueles que adquiriam o conhecimento com mestres ou pela prática e outros que a exerceriam a partir das universidades. A partir de 1808 os hospitais militares de Salvador e do Rio de Janeiro passam a contar com cursos de cirurgia; Entre 1813 e 1816 são fundadas, nas mesmas cidades, academias médico-cirúrgicas que concedem diplomas de cirurgião e cirurgião formado. Em 1832 são criadas faculdades de medicina no Império. (PIMENTA, T. S. “Curandeiro, parteira e sangrador: ofícios de cura no início do oitocentos na corte imperial”. Khronos, nº6, pp. 59 - 64. 2018.)
[8] A noção de uma casa “corretiva” para os delinquentes não integrava as noções de justiça do Antigo Regime, preocupado em punir e castigar o corpo dos réus. Daí a ausência, em especial no Brasil colonial, de qualquer instituição penal que cuidasse, além de amontoar indivíduos à própria sorte em celas escuras e fétidas. Mas na segunda metade do século XVIII, encontram-se esboços de uma concepção de prisão com fins de correção do transgressor, propostas pelo poder público metropolitano. A denominação Casa de Correção já explicita uma preocupação em recolher o delinquente não apenas para isolá-lo e puni-lo, mas reeducá-lo de forma a que não tornasse a cometer os mesmos crimes. Em oposição às tradicionais prisões insalubres, escuras, cuja organização espacial e método de recolhimento e encarceramento não seguiam nenhuma lógica além da mera punição pelo isolamento, as Casas de Correção, ao menos teoricamente, propunham-se a utilizar o espaço de reclusão como meio de evitar que o preso reincidisse na infração, especialmente através do trabalho. Para tal, a disciplina e a arquitetura da instituição mostrar-se-iam fundamentais. Apesar de propostas no sentido de concretizar uma Casa de Correção no Rio de Janeiro surgirem na segunda metade do século XVIII, somente em 1833 ela começou, de fato, a ser erguida na região, onde atualmente se encontra o bairro do Catumbi. Não à toa, erguida em um momento em que a presença das classes populares ganhava as ruas da capital do Império, exercendo suas atividades laborais, envolvidas em rixas políticas ou simplesmente “vadiando”, a Casa de Correção tinha por objetivo transformar o detento em súdito “probo e laborioso.”
[9] Casas de reclusão voltadas para educação de mulheres, surgidas na época moderna. Em sua maioria, eram instituições laicas, não ligadas diretamente à Igreja, embora pudessem, mais tarde, transformarem-se em conventos. O primeiro criado por uma mulher e vinculado à Ordem Terceira Franciscana foi estabelecido na cidade de Olinda, em 1576. No período colonial, muitos recolhimentos foram fundados por padres, mas ainda que a educação religiosa integrasse os ensinamentos, o voto religioso não era obrigatório, tendo em vista que nesses ambientes recolhiam-se viúvas, solteiras, órfãs, além de mulheres escravas que faziam os serviços mais pesados. Eram espaços regidos por uma disciplina que tinha por base o estabelecimento de censuras, obrigações e a regulamentação dos ciclos de repetição. As casas de recolhimento exerciam uma dupla função na sociedade colonial. Se por um lado legitimavam a dominação masculina, ao receberem mulheres que não se enquadravam nos padrões estabelecidos, por outro, funcionavam como locais de resistência feminina. Algumas mulheres, por exemplo, optavam pela vida nos recolhimentos para escaparem de casamentos arranjados. Desta forma, tais espaços convertiam-se em alternativas de exercício da liberdade diante das poucas opções que a sociedade patriarcal legava às mulheres. É interessante ressaltar que os recolhimentos eram sustentados por meio de doações. Esperava-se que formassem boas esposas, mães, ou em última instância, boas educadoras para as moças mais jovens da casa. Constituíram um dos poucos espaços na colônia onde as mulheres aprendiam a ler e escrever, uma vez que não havia escolas para mulheres.
[10] Irmandade religiosa portuguesa criada em 1498, em Lisboa, pela rainha Leonor de Lencastre. Era composta, inicialmente, por cem irmãos, sendo metade nobres e os demais plebeus. Dedicada à Virgem Maria da Piedade, a irmandade adotou como símbolo a virgem com o manto aberto, representando proteção aos poderes temporal e secular e aos necessitados. Funcionava como uma organização de caridade prestando auxílio aos doentes e desamparados, como órfãos, viúvas, presos, escravos e mendigos. Entre as suas realizações, destaca-se a fundação de hospitais. Segundo o historiador Charles Boxer, eram sete os deveres da Irmandade: “dar de comer a quem tem fome; dar de beber a quem tem sede; vestir os nus; visitar os doentes e presos; dar abrigo a todos os viajantes; resgatar os cativos e enterrar os mortos” (O império marítimo português. 2ª ed., Lisboa: Edições 70, 1996, p. 280). A instituição contou com a proteção da Coroa portuguesa que, além do auxílio financeiro, lhe conferiu privilégios, como o direito de sepultar os mortos. Enfrentando dificuldades financeiras, a Mesa da Misericórdia e os Hospitais Reais de Enfermos e Expostos conseguiram que a rainha d. Maria I lhes concedesse a mercê de instituir uma loteria anual, através do decreto de 18 de novembro de 1783. Cabe destacar que os lucros das loterias se destinavam, também, as outras instituições pias e científicas. Inúmeras filiais da Santa Casa de Misericórdia foram criadas nas colônias do Império português, todas com a mesma estrutura administrativa e os mesmos regulamentos. A primeira Santa Casa do Brasil foi fundada na Bahia, ainda no século XVI. No Rio de Janeiro, atribui-se a criação da Santa Casa ao padre jesuíta José de Anchieta, por volta de 1582, para socorrer a frota espanhola de Diogo Flores de Valdez atacada por enfermidades. A irmandade esteve presente, também, em Santos, Espírito Santo, Vitória, Olinda, Ilhéus, São Paulo, Porto Seguro, Sergipe, Paraíba, Itamaracá, Belém, Igarassu e São Luís do Maranhão. A Santa Casa constituiu a mais prestigiada irmandade branca dedicada à ajuda dos doentes e necessitados no Império luso-brasileiro, desempenhando serviços socais como a concessão de dotes, o abrandamento das prisões e a organização de sepultamentos. Os principais hospitais foram construídos e administrados por essa irmandade, sendo esta iniciativa gerada pelas precárias condições em que viviam os colonos durante o período inicial da ocupação territorial brasileira. A reunião do corpo diretivo da irmandade da Santa Casa da Misericórdia, responsável pela administração desta associação, era chamada Mesa da Misericórdia.
[11] O sistema prisional, baseado no encarceramento diferenciado e delimitado por penas variáveis, aparece no mundo contemporâneo (ou, pelo menos, na maior parte dele) como concretização de sanções impostas a indivíduos que quebram as regras estabelecidas. Na realidade, a privação da liberdade e o isolamento como punição em si – e também reeducação – surgiu na Europa. Não há registros na Antiguidade, por exemplo, do uso punitivo do encarceramento, utilizado na época como detenção temporária do suspeito até que a punição final fosse imposta, após julgamento. O banimento, a infâmia, a mutilação, a morte e a expropriação eram as penas mais recorrentes. Na Idade Média, o cenário era semelhante. O crescimento populacional, a urbanização e as graves crises de fome que marcaram a Idade Moderna resultaram em aumento de criminalidade e em revolta social, movimentos estes que, às vezes, se sobrepunham. Diante dessa situação, as penas cruéis e a própria pena de morte, aplicadas em público, utilizadas na Idade Média em resposta a crimes frívolos (roubar um pão, ofender o senhorio, blasfemar), deixaram de ser adequadas, posto que poderiam facilmente causar um levante popular. Além disso, cada vez mais se considerava o espetáculo bizarro das punições públicas uma afronta ao racionalismo e ao humanismo que marcaram o século XVIII. Se no Antigo Regime o sistema penal se baseava mais na ideia de castigo do que na recuperação do preso, no século XVIII se intensificam as tentativas, esboçadas no século anterior, de transformar as velhas masmorras, cárceres e enxovias infectas e desordenadas, onde se amontoavam criminosos, em centros de correção de delinquentes. Em boa parte do mundo, entretanto, tais ideias demorariam a sair do papel. No Brasil, no início do século XIX, muitas fortalezas funcionaram como prisões para corsários, amotinados e, algumas vezes, para criminosos comuns. Na maior parte do vasto território da colônia, as cadeias eram administradas pelas câmaras municipais e, geralmente, localizavam-se ao rés do chão das mesmas, ou nos palácios de governo. A tortura, meio de obtenção de informações conforme previsto pelas Ordenações Filipinas, era utilizada tanto em casos de prisão por motivos religiosos, quanto em prisioneiros comuns. As cadeias não passavam de infectos depósitos de pessoas do todo o tipo: desde pessoas livres, já condenadas ou sofrendo processo, até suspeitos de serem escravos fugidos, prostitutas, indígenas, loucos, vagabundos. Proprietários, homens ricos e influentes e funcionários da Coroa permaneciam em um ambiente separado. Para os escravos, havia uma cadeia denominada Calabouço, embora também fossem encerrados em outros estabelecimentos.
[12] As Ordenações Filipinas, última das ordenações reais, forneceram o arcabouço legal à monarquia portuguesa desde 1603, quando foram promulgadas por Filipe I. O Livro V das Ordenações definia e caracterizava os crimes e a punição dos criminosos, constituindo uma forma explícita de afirmação do poder régio. Cada capítulo dedicava-se a formas muito específicas de conduta, assim como orientava a atuação dos agentes da lei diante de situações e de criminosos os mais diversos. Tal livro vigorou no Brasil, por mais de 220 anos, já que deixou o ordenamento jurídico somente no ano de 1830, quando sobreveio o Código Criminal do Império.
[13] De acordo com o direito romano, quando o adultério era cometido pela mulher permitia-se ao marido traído “lavar com sangue” a sua honra. Mas, para que os homens fossem punidos, era necessária prova material de que ele estivesse incurso no que se chamava “concubinagem franca” com a mulher, pois relações passageiras, pequenos desvios e alguns pecadilhos eram tolerados. Considerada uma falta grave desde o Concílio de Trento (1545-1563), a Igreja reconheceu a possibilidade de separação permanente dos consortes, sendo um dos motivos mais alegados para o “divórcio”, uma vez comprovada a traição.
[14] As Ordenações Filipinas permaneceram em vigência no Brasil até a publicação do Código Penal de 1830. Enfatizando o criminoso em vez do ato, sua suposta natureza vil e perversa, e vinculando todo o processo (inclusive a determinação de pena) a linhagem e privilégios do réu, este código de leis, que remonta a Portugal do Antigo Regime, determinava penalidades corporais e o pagamento com a própria vida por uma série de crimes contra a honra e a propriedade. Em seu Livro V, que tratava das penalidades criminais, permitia a aplicação da pena capital com grande liberalidade: crimes contra a vida, contra a ordem política estabelecida ou contra o soberano, bigamia, relacionamento com não-cristãos, falsificação de moeda e roubo. O termo morra por ello (morra por isso) aparecia em profusão neste corpo de leis, que tinha entre suas punições possíveis a pena de morte, degredo, banimento, confisco de bens, multas e castigos físicos. Determinava-se castigo bastante específico para os escravos que assassinassem seu senhor: “Seja atenazado [ter as carnes apertadas com tenaz ardente] e lhes sejam decepadas as mãos e morra morte natural na forca para sempre.” As Ordenações foram sendo deixadas de lado a partir da Independência formal do Brasil, e a primeira Constituição aboliu castigos físicos, tortura, mutilação dos cadáveres dos condenados, exposição dos corpos. Isto, contudo, valia apenas para os homens livres, pois os cativos, propriedade privada de existência civil, continuaram a ser açoitados como forma de castigo por crimes comuns. Também deu fim às diversas formas de aplicação da pena de morte que a criatividade dos legisladores portugueses impôs ao antigo código (morte por fogo, asfixia, açoitamento, sepultamento, entre outras), permitindo apenas a forca. Além disso, sua aplicação restringia-se a homicídios e insurreições escravas. De fato, os escravos acusados de sublevação ou de assassinato de seus senhores, rarissimamente recebiam algum alívio da pena, pois, na prática, não podiam sequer alegar legítima defesa. A pena de morte foi muito pouco aplicada no Brasil do Segundo Império e, até mesmo, crimes cometidos por escravos contra seus senhores passaram ser passíveis de indulto nos últimos anos do governo de d. Pedro II. (https://www.academia.edu/11655581/O_tratamento_jur%C3%ADdico_dos_escravos_nas_Ordena%C3%A7%C3%B5es_Manuelinas_e_Filipinas)
[15] Punição prevista no corpo de leis português, o degredo era aplicado a pessoas condenadas aos mais diversos tipos de crimes pelos tribunais da Coroa ou da Inquisição. Tratava-se do envio dos infratores para as colônias ou para as galés onde cumpririam a sentença determinada. Os menores delitos, como pequenos furtos e blasfêmias, geravam uma pena de 3 à 10 anos, e os maiores que envolviam lesa-majestade, sodomia, falso misticismo, fabricação de moeda falsa, entre outros, eram definidos pela perpetuidade com pena de morte se o criminoso voltasse ao país de origem. Além do aspecto jurídico, em um momento de dificuldades financeiras para Portugal, degredar criminosos, hereges e perturbadores da ordem social, adquiriu funções variadas além da simples punição. Expulsá-los para as “terras de além-mar” mantinha o controle social em Portugal e, em alguns casos também, em suas colônias mais prósperas, contribuindo para o povoamento das fronteiras portuguesas e das possessões coloniais, além de aliviar a administração real com a manutenção prisional. Uma das formas encontradas pelas autoridades para livrar o reino de súditos indesejáveis, entre degredados figuraram marginais, vadios, prostitutas e aqueles que se rebelassem contra a Coroa. Sendo uma das mais severas penas, o degredo estava abaixo apenas da pena de morte, pois servia como pena alternativa; esta era designada pelo termo “morra por ello” (morra por isso). Porém. o degredo também assumia este caráter de “morte civil” já que a única forma de assumir novamente alguma visibilidade social, ou voltar ao seu país, era obtendo o perdão do rei.
[16] Punição prevista no corpo de leis português, o degredo era aplicado a pessoas condenadas aos mais diversos tipos de crimes pelos tribunais da Coroa ou da Inquisição. Tratava-se do envio dos infratores para as colônias ou para as galés, onde cumpririam a sentença determinada. Os menores delitos, como pequenos furtos e blasfêmias, geravam uma pena de 3 a 10 anos, e os maiores, que envolviam lesa-majestade, sodomia, falso misticismo, fabricação de moeda falsa, entre outros, eram definidos pela perpetuidade, com pena de morte se o criminoso voltasse ao país de origem. Além do aspecto jurídico, em um momento de dificuldades financeiras para Portugal, degredar criminosos, hereges e perturbadores da ordem social adquiriu funções variadas além da simples punição. Expulsá-los para as “terras de além-mar” mantinha o controle social em Portugal e, em alguns casos também, em suas colônias mais prósperas, contribuindo para o povoamento das fronteiras portuguesas e das possessões coloniais, além de aliviar a administração real com a manutenção prisional. Constituindo-se uma das formas encontradas pelas autoridades para livrar o reino de súditos indesejáveis, entre os degredados figuraram marginais, vadios, prostitutas e aqueles que se rebelassem contra a Coroa. Considerada uma das mais severas penas, o degredo só estava abaixo da pena de morte, servindo como pena alternativa designada pelo termo “morra por ello” (morra por isso). Porém o degredo também assumia este caráter de “morte civil” já que a única forma de assumir novamente alguma visibilidade social, ou voltar ao seu país, era obtendo o perdão do rei.
[17] O núcleo de povoamento original chamou-se Nossa Senhora do Desterro, fundado na década de 1670, com a chegada do bandeirante Francisco Dias Velho, acompanhado de outras famílias e mais de 500 nativos. A capitania de Santa Catarina foi pela Provisão Régia em 1738, com base na desvinculação da ilha de Santa Catarina – originalmente chamada de ilha dos Patos –, e sua fronteira continental, até então sob jurisdição de São Paulo. No ano seguinte, José da Silva Paes é nomeado governador da nova capitania, com a incumbência de fortificar a ilha e organizar a ocupação sistemática da região. Batizada pelo navegante veneziano Sebastião Caboto, que chegou à ilha em 1526 à frente de uma expedição espanhola, foi um dos pontos mais utilizados para desembarque de contrabandistas, corsários e estrangeiros na costa do Brasil devido a sua proximidade com continente, às boas baías para atracar embarcações e aos ventos brandos. Seu povoamento estaria relacionado à importância desse litoral para as navegações que se dirigiam à região do rio da Prata, que ficava em um ponto geográfico estratégico a meio caminho entre a cidade do Rio de Janeiro e o sul do continente. Era, assim, parada quase obrigatória dos navios que passavam pelo litoral. A ilha oferecia madeira abundante e de qualidade para reparos de embarcações, além de gêneros alimentícios e água para abastecimento das tripulações em viagem. Essa privilegiada posição geográfica despertou o interesse, principalmente, de espanhóis, que chegaram a ocupar a ilha em alguns momentos, mas também de ingleses e franceses. Em 1777, a ilha foi ocupada por espanhóis, liderados por d. Pedro de Cevallos, governador de Buenos Aires. A invasão foi resultado dos conflitos entre as nações ibéricas, decorrentes da anulação do Tratado de Madri e da Guerra dos Sete Anos, travada na Europa entre diversos reinos, entre eles França e Inglaterra, nos anos 1756-1763. O domínio português na região só foi reestabelecido com a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, face ao pequeno interesse demonstrado pelos portugueses de ocupar o território no início da colonização, quando ocorreram algumas tentativas de tomar a ilha, levando a Coroa portuguesa a iniciar a ocupação efetiva de Santa Catarina por imigrantes açorianos ainda no século XVII. Nesse mesmo período, os povoados de São Francisco, Desterro e Laguna foram fundados. As atividades produtivas estavam em torno do cultivo de subsistência e da tradição pesqueira. Em meados do século XVIII Portugal autorizou a pesca de baleias no litoral catarinense. A produção de óleo ("azeite", como então chamado) encontrava uso local ou era enviada a Portugal. Não demorou muito e os animais passaram e evitar a costa o que, junto à substituição de óleo por querosene, no início do século XIX, ocasionou o declínio da atividade. No início do século XIX, os tratados da Coroa portuguesa com a Inglaterra incluíram a entrega de portos catarinenses para facilitar a rota de comércio inglês na região do Prata.
[18] O Estado das Índias, ou Índia portuguesa compreende um conjunto de possessões, cidades, fortalezas, portos e entrepostos conquistados pelos portugueses ao longo de sua expansão marítima e comercial, desde pelo menos finais do século XV até meados do XIX, na África e Ásia. Referem-se mais especificamente às cidades e portos que ficavam no que atualmente se chama Índia e constituíram um estado colonial em 1505, do ponto de vista administrativo como forma de facilitar a burocracia governamental ultramarina, controlando as novas áreas conquistadas. Foi primeiro administrado por d. Francisco de Almeida, e a sede do governo foi em Cochim até 1510, quando transferiu-se definitivamente para a cidade de Goa. Até a metade do século XVII, Portugal reinou soberano no oceano Índico, controlando as valiosas rotas comerciais de especiarias, sedas e outros produtos de luxo provenientes do Oriente, desde a costa leste do continente africano, até Macau, na China, passando por Malaca, Molucas, Timor Leste e outras regiões. Entre as cidades do território indiano propriamente destacavam-se: Diu, Surate, Damão, Bombain, Goa, Cananore, Calicute, Cochim, Ceilão e Maldivas, entre muitas outras. Portugal somente saiu da Índia em 1947, quando as cidades de Goa, Diu e Damão, as últimas e principais colônias, tornaram-se independentes ao se juntarem ao território Hindu. Não se pode esquecer que o comércio não foi o único impulsionador da conquista da Ásia e África, e a expansão portuguesa pelo ultramar foi resultante de uma associação poderosa e bem-sucedida entre Estado e religião Católica – as conquistas resultavam em produtos e lucrativas rotas comerciais para o reino e em almas para a Cristandade, que expandiu seus domínios até a China e o Japão com seus missionários. O declínio da hegemonia do comércio português se inicia quando os holandeses e outros navegantes também começaram a chegar ao Oriente, principalmente os primeiros com a poderosa esquadra da Companhia das Índias Orientais, tomaram conta das feitorias e portos portugueses, reduzindo muito sua área de atuação. Diu, Goa e Damão foram as maiores cidades do Estado português da Índia, grandes centros comerciais e polos receptores de gêneros e matéria-prima das outras regiões, a serem redistribuídos pelo Império luso. Embora os portugueses tenham se espalhado pela costa da Índia, foram essas as três regiões que permaneceram pontos ativos do império atlântico até o século XX (reconquistadas em 1961). Goa, a maior dessas cidades, situada na costa do Malabar, foi desde o século XVI, a sede das possessões no sudeste asiático. Conquistada em 1510 por Afonso de Albuquerque, era uma região estratégica, cercada de áreas de produção agrícola, recebia a maior quantidade de navios e cargas de outros pontos da península e que proporcionava aos portugueses o controle de comércio do oceano índico. Goa foi um dos vértices do comércio luso no atlântico – assim como Luanda, Lisboa, Salvador e Rio de Janeiro – e, embora o comércio com as possessões lusas na Índia tivesse entrado em decadência a partir do século XVIII (devido aos grandes gastos com guerras para mantê-las e ao contrabando, que diminuía consideravelmente os lucros da Coroa), a cidade permaneceu o ponto forte de Portugal na região. Ao longo do período colonial, os navios carregados de tecidos e outros produtos “finos” (como porcelanas e especiarias) da Índia deixavam os portos de Goa em direção a Luanda e, depois de uma escala em Salvador, iam para Lisboa, aonde chegavam praticamente descarregados. A maior parte desses tecidos era vendida diretamente para os comerciantes destas cidades (o que levou a aumento de impostos e a proibição da escala no Brasil). Depois da abertura dos portos do Brasil em 1808, o comércio com Lisboa enfraqueceu mais ainda, já que os navios eram diretamente direcionados para a África e depois para o Rio de Janeiro, de onde seriam redistribuídos para o restante do Império. Diu e Damão, localizadas respectivamente na costa de Guzerate e no golfo de Cambaia (ambos parte da região do Guzerate), mais ao norte da costa ocidental, foram peças-chave, desde o século XVI, no fornecimento de gêneros para o comércio metropolitano, sobretudo de tecidos de algodão, os mais finos reservados a serem mandados a Lisboa por Goa, e os mais grosseiros a serem exportados para Moçambique, em troca de marfim, âmbar, ouro, escravos, entre outros.
[19] Segundo filho de d. Maria I e d. Pedro III, se tornou herdeiro da Coroa com a morte do seu irmão primogênito, d. José, em 1788. Em 1785, casou-se com a infanta Dona Carlota Joaquina, filha do herdeiro do trono espanhol, Carlos IV que, na época, tinha apenas dez anos de idade. Tiveram nove filhos, entre eles d. Pedro, futuro imperador do Brasil. Assumiu a regência do Reino em 1792, no impedimento da mãe que foi considerada incapaz. Um dos últimos representantes do absolutismo, d. João VI viveu num período tumultuado. Foi sob o governo do então príncipe regente que Portugal enfrentou sérios problemas com a França de Napoleão Bonaparte, sendo invadido pelos exércitos franceses em 1807. Como decorrência dessa invasão, a família real e a Corte lisboeta partiram para o Brasil em novembro daquele ano, aportando em Salvador em janeiro de 1808. Dentre as medidas tomadas por d. João em relação ao Brasil estão a abertura dos portos às nações amigas; liberação para criação de manufaturas; criação do Banco do Brasil; fundação da Real Biblioteca; criação de escolas e academias e uma série de outros estabelecimentos dedicados ao ensino e à pesquisa, representando um importante fomento para o cenário cultural e social brasileiro. Em 1816, com a morte de d. Maria I, tornou-se d. João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1821, retornou com a Corte para Portugal, deixando seu filho d. Pedro como regente.
[20] O mesmo que mercê, benefício, tença e donativos. Na sociedade do Antigo Regime, a concessão de mercês era um direito exclusivo do soberano, decorrente do seu ofício de reinar. Cabia ao monarca premiar o serviço de seus súditos, de forma a incentivar os feitos em benefício da Coroa. Desse modo, receber uma mercê significava ser agraciado com algum favor (concessão de terras, ofícios na administração real, recompensas monetárias), condecoração ou título pelo rei, os quais eram concedidos sob os mais variados pretextos. Em 1808, após a chegada da Corte portuguesa ao Brasil, foi criada a Secretaria do Registro Geral das Mercês, subordinada à Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil, quando da recriação, no Rio de Janeiro, dos órgãos da administração do Império português. Tinha por competência o registro dos títulos de nobreza e de fidalguia concedidos como graça, benefício e recompensa pelo monarca. As formas mais frequentes de mercês eram os títulos de nobreza e fidalguia, com as terras e tenças correspondentes, os hábitos das Ordens Honoríficas, cargos e posições hereditários. A concessão de mercês era também uma forma do monarca balancear os privilégios entre seus súditos, mantendo os bons serviços prestados por quem já havia conquistado alguma graça e incentivando o bom trabalho dos que almejavam obtê-las. Com a transferência da Corte da Europa para a América, poder-se-ia crer que os súditos da terra passariam a obter mais mercês, mas a hierarquia que havia entre a metrópole e a colônia, reproduzida na concessão de benefícios acabaria por se manter na colônia, mesmo depois da elevação a Reino Unido. Poucos títulos de nobreza foram concedidos, uma vez que na América não havia a nobreza de sangue, de linhagem, mas somente a concedida por grandes favores prestados ao reino, políticos ou militares. Entre as ordens honoríficas observa-se que houve a concessão de mais títulos, mas a maioria de baixa patente ou menor importância, os mais altos graus ainda eram reservados para a nobreza metropolitana. Mesmo concedendo hábitos, títulos de cavaleiros, posições e cargos, as mercês reservadas aos principais da colônia eram inferiores àquelas reservadas aos grandes da metrópole.
Crimes menores
Ofício enviado por Manuel Ribeiro da Silva informando que recebeu uma queixa do capitão da Fortaleza de Santa Cruz, José Ribeiro da Silva, que era dono de uma estalagem onde residiam o tenente-coronel da brigada Real da Marinha José Bernardes Lacerda, o praça José Antônio Galvão, o cadete do 1º regimento do Exército Carlos Figueira e o cirurgião José Rodrigues da Conceição, envolvidos em desordens e “murmurações” (calúnias) contra o Estado, o Rei, o marquês de Aguiar (ministro dos Negócios do Reino), e até o intendente geral de Polícia, chamado de “asno”. Quando José Ribeiro pediu que os homens deixassem os cômodos, quase foi agredido, além de ter sido ofendido, bem como a própria Polícia, que os quatro achavam que os deixaria impune. Manuel Ribeiro dá ciência de que prendeu o desbocado cirurgião e conseguiu, com dificuldade, despejar os outros três.
Conjunto documental: Ministério dos Negócios do Brasil, Ministério dos Negócios do Reino, Ministério dos Negócios do Reino e Estrangeiros, Ministério dos Negócios do Império e Estrangeiros. Instituições policiais
Notação: 6J-83
Datas-limite: 1816-1817
Título do fundo: Diversos GIFI
Código do fundo: OI
Argumento de pesquisa: criminalidade
Data do documento: 23 de agosto de 1816
Local: Rio de Janeiro
Folha(s): -
Ontem pelas 10 horas da manhã, veio ao meu [...] o capitão da Fortaleza de Santa Cruz[1], e [...] José Ribeiro da Silva dar me frente que o tenente coronel da Brigada Real da Marinha, José Bernardes de Lacerda, que morava em um quarto da sua estalagem, assim como o [...] das [Praças] [...], José Antônio Galvão, e o cadete do 1º Regimento de [...] do exército Carlos Figueira [...], estes José [Roiz/Rodrigues] da Conceição cirurgião[2] vindo de [Lisboa][3], constantemente murmuravam[4] do [Estado], dizendo publicamente na sua estalagem, o tenente coronel, que isto tudo estava perdido desta Corte, que Sua Majestade Elrey[5] Nosso Senhor era um tolo, que em Portugal queriam um rei ainda que fosse de paus, e que se caso Senhora Majestade não fosse queriam fazer uma República[6], e que faziam muito bem, e tinham razão, e o Marques de Aguiar[7], que ele andava muito tempo atrás dele para o seu despacho, e que muitas vezes se lembrou de o [...] a pontapé, que a ele, quem lhe tinha [escolhido], era a Rainha Nossa Senhora[8], que essa sim, que era a nossa fortuna, e que a não ser ela então de todo estava acabado, que Elrey nele tinha perdido um amigo, o cirurgião, [...] mais além disto, que aqui senão pode [servir] para que não há providências, que a ele não esta [...] em Portugal[9], se tinha ido e media [...] embora, a não querer o seu despacho; porém que ele não dizem sim, ou não, e que lhe não dão desengano; que o intendente geral da polícia[10], é um asno, toleirão, e que em lugar de dar providências, está metido na sua chácara esgotando [botelhas] de vinho, e que entregava o governo da polícia, a um [moço de feitos], o [...]. e sejam como isto assim, com o [pode] andar governado, que o intendente em vez de cuidar na água, estava tomando o verde[11], porém, que o cirurgião, era o que principiava sempre a murmuração, e o tenente coronel [analisava] os diferentes fatos com a sua opinião; que o cadete também entrava com a sua opinião; o [...] esse só ouvia; que ele declarante, advertiu ao tenente coronel, que houvesse de se abster, pois, que aquilo era uma casa de pouso[12], e não queria trabalhos, e não gostava de ouvir falar mal do Estado, ao que lhe respondeu, que fosse guardar [cabras], que era um tolo, e se lhe mandavam alguma coisa para a sua família, que é do que ele precisava; a que lhe ele respondera, que não era por isso, era porque ele não queria ouvir falar mal do Estado e que vendo-se neste aperto, ontem a noite, pusera escritos em sua estalagem em que dizia a todos, os ali alojados, que ele no 1° de abril fechava a estalagem por não querer aquele modo de vida; que esta manhã, apareceram os escritos, todos [barreados] com [...], e que o alferes o fora atacar ao seu quarto, querer lhe puxar as orelhas, e querê-lo levar para que ele limpasse aquilo mesmo, que ele a este procedimento [...] que se vinham queixar a Guarda da Polícia, ao que o [...] respondeu, que cagava para a polícia, e fosse a quantas polícias quisesse: dei imediatamente a providência, de mandar o oficial de Estado-Mor, o alferes[13] João Pereira Cabral, que dissesse a todos, [...] [secretária], que vindo a mesma, os [...], que houvessem de se mudar para quantas de outra estalagem, a fim de se evitar desordens, pois que o dono me requeria a sua segurança: o tenente coronel responder-me que não queria atacando-me, dei-lhe a voz Almirante [..], não quis ser conduzido por um capitão deste corpo, prendi o cirurgião, e fiz-lhe a presença aos seus papéis, por o mesmo queixoso me dizer, que eles estavam continuamente a escreverem [ao] Tenente Coronel não quis facilitas a chave do baú, mandei para aquele lugar o Tenente deste corpo Joaquim [...] da Silva, para embaraçar não mandasse ele tirar os papéis do seu quarto, e os outros lhes mandei dar lugar nas outras estalagens. [...] do Campo de Santana[14] 23 de agosto de 1816.
Manoel Ribeiro da Silva
[1] Principal estrutura defensiva da baía de Guanabara protegia a cidade do Rio de Janeiro e seu porto, a fortaleza teve sua origem na criação de uma bateria, na década de 1580, erguida sob a proteção da Nossa Senhora da Guia. No fim daquele mesmo século, essa bateria conseguiu repelir a aproximação de uma esquadra holandesa que se aproximava da cidade de São Sebastião com intenções dúbias (acometidos de escorbuto ou planejando uma invasão). Seu nome atual veio em 1612, e durante o governo de Martim Sá na década seguinte, a fortaleza ganhou reforços significativos, com novas peças de artilharia. No final do século XVII, contava com 38 peças e, em 1710, a bateria entraria em ação na defesa da baía contra o corsário francês Duclerc. Depois de seguidos reforços ao longo dos anos, a fortaleza mostrava-se imponente em 1730, apresentando 135 canhões em prontidão. Nesta época, adquire a sua forma atual, delineada em pedras já cortadas, e enviadas de Portugal. Durante o século XIX, funcionou como prisão, recebendo até mesmo figuras ilustres caídas em desgraça, como José Bonifácio e Bento Gonçalves. Apresentava celas, paredão de fuzilamento e forca no pátio. (Adler Homero Fonseca de Castro. Muralhas de pedra, canhões de bronze, homens de ferro: fortificações do Brasil de 1504 a 2006. Rio de Janeiro: FUNCEB, 2009 http://www.funceb.org.br/images/revista/7_0v7y.pdf)
[2] A cirurgia vem de uma longa tradição científica que nos séculos XVII e XVIII podia ser localizada no tratado árabe “O método da medicina”, de Albucasis, (936-1013) traduzido em latim e largamente disseminado na Idade Média. Na França a cirurgia teria sido o campo mais radicalmente transformado no século das Luzes, como escreve Alain Touwaide (Chirurgie. In: Delon, M. Dictionnaire européen des Lumières, 1997). É nesse período que os cirurgiões conquistam o respeito dos médicos e que a cirurgia se torna, nas universidades, um instrumento de investigação do corpo e da própria doença. Os cirurgiões distinguiam-se dos médicos, havendo diferenças entre eles, como em Portugal onde eram divididos em três tipos, os diplomados, aprovados e barbeiros, segundo a formação e local de aprendizagem, como hospitais militares, misericórdias ou outros hospitais, como explica Lycurgo Santos Filho (Cirurgiões. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza. Dicionário da história da colonização portuguesa no Brasil, 1994). Predominaram no Brasil e em Portugal os cirurgiões-barbeiros, acolhidos como aprendizes pelos mestres cirurgiões. Ainda de acordo com Santos Filho, nos séculos XVI e XVII os cirurgiões eram quase todos cristãos novos, quase sempre perseguidos pelo Santo Ofício por práticas judaizantes, mas que dada sua especialidade chegaram a postos de destaque na sociedade colonial, como assinala Ronaldo Vainfas (Cf. Cirurgiões. In: Dicionário do Brasil colonial, 1500-1808, 2001). Nos séculos seguintes os cirurgiões na América portuguesa foram muitas vezes negros, escravizados ou não, além dos classificados como brancos ou mulatos. Cabia-lhes sangrar, aplicar bichas ou ventosas, escalda-pés, banhos, arrancar dentes, e, cortar cabelo e fazer a barba. Sem que tivessem autorização para tal, procediam a amputações e lancetavam abscessos diz Lycurgo S. Filho. A cirurgia seguiria dividida entre aqueles que adquiriam o conhecimento com mestres ou pela prática e outros que a exerceriam a partir das universidades. A partir de 1808 os hospitais militares de Salvador e do Rio de Janeiro passam a contar com cursos de cirurgia; Entre 1813 e 1816 são fundadas, nas mesmas cidades, academias médico-cirúrgicas que concedem diplomas de cirurgião e cirurgião formado. Em 1832 são criadas faculdades de medicina no Império. (PIMENTA, T. S. “Curandeiro, parteira e sangrador: ofícios de cura no início do oitocentos na corte imperial”. Khronos, nº6, pp. 59 - 64. 2018.)
[3] Capital de Portugal, sua origem como núcleo populacional é bastante controversa. Sobre sua fundação, na época da dominação romana na Península Ibérica, sobrevive a narrativa mitológica feita por Ulisses, na Odisseia de Homero, que teria fundado, em frente ao estuário do Tejo, a cidade de Olissipo – como os fenícios designavam a cidade e o seu maravilhoso rio de auríferas areias. Durante séculos, Lisboa foi romana, muçulmana, cristã. Após a guerra de Reconquista e a formação do Estado português, inicia-se, no século XV, a expansão marítima lusitana e, a partir de então, Portugal cria núcleos urbanos em seu império, enquanto a maioria das cidades portuguesas era ainda muito acanhada. O maior núcleo era Lisboa, de onde partiram importantes expedições à época dos Descobrimentos, como a de Vasco da Gama em 1497. A partir desse período, Lisboa conheceu um grande crescimento econômico, transformando-se no centro dos negócios lusos. Como assinala Renata Araújo em texto publicado no site O Arquivo Nacional e a história luso-brasileira (http://historialuso.arquivonacional.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3178&Itemid=330), existem dois momentos fundadores na história da cidade: o período manuelino e a reconstrução pombalina da cidade após o terremoto de 1755. No primeiro, a expansão iniciada nos quinhentos leva a uma nova fase do desenvolvimento urbano, beneficiando as cidades portuárias que participam do comércio, enquanto são elas mesmas influenciadas pelo contato com o Novo Mundo, pelas imagens, construções, materiais, que vinham de vários pontos do Império. A própria transformação de Portugal em potência naval e comercial provoca, em 1506, a mudança dos paços reais da Alcáçova de Lisboa por um palácio com traços renascentistas, de onde se podia ver o Tejo. O historiador português José Hermano Saraiva explica que o lugar escolhido como “lar da nova monarquia” havia sido o dos armazéns da Casa da Mina, reservados então ao algodão, malagueta e marfim que vinham da costa da Guiné. Em 1º de novembro de 1755, a cidade foi destruída por um grande terremoto, com a perda de dez mil edifícios, incêndios e morte de muitos habitantes entre as camadas mais populares. Caberia ao marquês de Pombal encetar a obra que reconstruiu parte da cidade, a partir do plano dos arquitetos portugueses Eugenio dos Santos e Manuel da Maia. O traçado obedecia aos preceitos racionalistas, com sua planta geométrica, retilínea e a uniformidade das construções. O Terreiro do Paço ganharia a denominação de Praça do Comércio, signo da nova capital do reino. A tarde de 27 de novembro de 1807 sinaliza um outro momento de inflexão na história da cidade, quando, sob a ameaça da invasão das tropas napoleônicas, se dá o embarque da família real rumo à sua colônia na América, partindo no dia 29 sob a proteção da esquadra britânica e deixando, segundo relatos, a população aturdida e desesperada, bagagens amontoadas à beira do Tejo, casas fechadas, como destacam os historiadores Lúcia Bastos e Guilherme Neves (Alegrias e infortúnios dos súditos luso-europeus e americanos: a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1807. Acervo, Rio de Janeiro, v.21, nº1, p.29-46, jan/jun 2008. http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/86/86). No dia 30 daquele mês, o general Junot tomaria Lisboa, só libertada no ano seguinte mediante intervenção inglesa.
[4] Neste contexto, murmuração era como uma boataria sem comprovação, comentários entre a população, um disse me disse, falatório, intrigas sem confirmação.
[5] Segundo filho de d. Maria I e d. Pedro III, se tornou herdeiro da Coroa com a morte do seu irmão primogênito, d. José, em 1788. Em 1785, casou-se com a infanta Dona Carlota Joaquina, filha do herdeiro do trono espanhol, Carlos IV que, na época, tinha apenas dez anos de idade. Tiveram nove filhos, entre eles d. Pedro, futuro imperador do Brasil. Assumiu a regência do Reino em 1792, no impedimento da mãe que foi considerada incapaz. Um dos últimos representantes do absolutismo, d. João VI viveu num período tumultuado. Foi sob o governo do então príncipe regente que Portugal enfrentou sérios problemas com a França de Napoleão Bonaparte, sendo invadido pelos exércitos franceses em 1807. Como decorrência dessa invasão, a família real e a Corte lisboeta partiram para o Brasil em novembro daquele ano, aportando em Salvador em janeiro de 1808. Dentre as medidas tomadas por d. João em relação ao Brasil estão a abertura dos portos às nações amigas; liberação para criação de manufaturas; criação do Banco do Brasil; fundação da Real Biblioteca; criação de escolas e academias e uma série de outros estabelecimentos dedicados ao ensino e à pesquisa, representando um importante fomento para o cenário cultural e social brasileiro. Em 1816, com a morte de d. Maria I, tornou-se d. João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1821, retornou com a Corte para Portugal, deixando seu filho d. Pedro como regente.
[6] O termo “república” vem do latim res publica, que significa literalmente “coisa pública”, ou seja, o bem público, o que era comum a todos os cidadãos. Considerando-se a tipologia de Estado moderno, o termo República representa o oposto das concepções monárquicas de soberania: a primeira, embora compreenda uma grande variedade de formas de governo e organização de Estado, pauta-se pelo exercício do poder político baseado na escolha do povo e em especial, na não hereditariedade do exercício deste poder. Na monarquia, ao contrário, o soberano herda o direito de ocupar o mais alto cargo político em função da sua linhagem. No entanto, o termo República é bastante anterior às teorias de Estado modernas, sua origem reside na necessidade de os romanos definirem em termos apropriados uma nova realidade de organização do poder depois que a forma de exercício dos antigos reis encontrou seu fim. Expressava uma ideia semelhante à politeia grega, qual seja, o bem comum. Cícero e Políbio estão entre os primeiros a estruturar as discussões em torno da coisa pública em um conceito coerente, ressaltando a importância de leis comuns para que o bem comum fosse alcançado, contrapondo assim, a República aos estados (ou antes, as formas de associação política) “injustos” (ilegais, ilegítimos). Na Idade Moderna, o termo se tornou caro àqueles que buscavam derrubar as formas de organização política típicas do Antigo Regime. Enfatizando o caráter de legitimidade do governo (fosse ele monárquico, democrático, aristocrático), havia uma tendência à defesa de um estado de direito que preservasse o bem dos seus cidadãos, em contraposição ao despotismo de reis que só respeitava a sua própria vontade, por terem, recebido seu poder “diretamente de Deus”. Após as revoluções francesa e americana, no século XVIII, a definição de república passa por um sem número de discussões e reelaborações, em grande medida consequência das experiências práticas que se desenvolvem com o passar dos anos. Indissociável da ideia de república é a da constituição, na qual o direito deixa de ser expressão do poder real e se torna o espelho da nação organizada. Nesse sentido, e após a Revolução Francesa, o termo soberania deixará de designar a legitimidade dinástica, transferindo-se para a vontade popular (Cf. LAFER, C. O significado de República. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2. n. 4, 1989. http://bibliotecadigital. fgv.br/ojs/index.php/reh/article/download/2286/1425) A adoção de um governo republicano e a difusão dos princípios de liberdade, em um mundo no qual preponderavam governos absolutistas, passaram a ser vistos pelo mundo monárquico como os “abomináveis princípios franceses”. Ao lado da independência das treze colônias inglesas na América do Norte, que se libertaram do domínio metropolitano, tornando-se uma República, inspirariam, sobremaneira, movimentos anticoloniais. De todo modo, a noção mais antiga e abrangente de República, segundo a qual o Estado deveria expressar a vontade do povo, associada à construção de um novo pacto social, continuou a influenciar alguns movimentos políticos. No contexto do Brasil colonial, o conceito de República explicitava uma defesa não de um sistema de governo com maior participação popular, nem sequer, necessariamente, de um governo independente da metrópole, mas sim, de um governo mais justo entre os súditos do Reino e Ultramar. Ainda assim, considera-se que a seu modo, movimentos como a conjuração mineira de 1789 e a Revolução de 1817 guardaram a inspiração republicana, norte-americana, sem dúvida, e no último caso, francesa.
[7] 1o conde de Aguiar e 2o marquês de Aguiar, era filho de José Miguel João de Portugal e Castro, 3º marquês de Valença, e de Luísa de Lorena. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, ocupou vários postos na administração portuguesa no decorrer de sua carreira. Governador da Bahia, entre os anos de 1788 a 1801, passou a vice-rei do Estado do Brasil, cargo que exerceu até 1806. Logo em seguida, regressou a Portugal e tornou-se presidente do Conselho Ultramarino, até a transferência da corte para o Rio de Janeiro. A experiência adquirida na administração colonial valeu-lhe a nomeação, em 1808, para a Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil, pasta em que permaneceu até falecer. Durante esse período, ainda acumulou as funções de presidente do Real Erário e de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Foi agraciado com o título de conde e marquês de Aguiar e se casou com sua sobrinha Maria Francisca de Portugal e Castro, dama de d. Maria I. Dentre suas atividades intelectuais, destaca-se a tradução para o português do livro Ensaio sobre a crítica, de Alexander Pope, publicado pela Imprensa Régia, em 1810.
[8] Maria da Glória Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana, rainha de Portugal, sucedeu a seu pai, d. José I, no trono português em 1777. O reinado mariano, época chamada de Viradeira, foi marcado pela destituição e exílio do marquês de Pombal, muito embora se tenha dado continuidade à política regalista e laicizante da governação anterior. Externamente, foi assinalado pelos conflitos com os espanhóis nas terras americanas, resultando na perda da ilha de Santa Catarina e da colônia do Sacramento, e pela assinatura dos Tratados de Santo Ildefonso (1777) e do Pardo (1778), encerrando esta querela na América, ao ceder a região dos Sete Povos das Missões para a Espanha em troca da devolução de Santa Catarina e do Rio Grande. Este período caracterizou-se por uma maior abertura de Portugal à Ilustração, quando foi criada a Academia Real das Ciências de Lisboa, e por um incentivo ao pragmatismo inspirado nas ideias fisiocráticas — o uso das ciências para adiantamento da agricultura e da indústria de Portugal. Essa nova postura representou, ainda, um refluxo nas atividades manufatureiras no Brasil, para desenvolvimento das mesmas em Portugal, e um maior controle no comércio colonial, pelo incentivo da produção agrícola na colônia. Deste modo, o reinado de d. Maria I, ao tentar promover uma modernização do Estado, impeliu o início da crise do Antigo Sistema Colonial, e não por acaso, foi durante este período que a Conjuração Mineira (1789) ocorreu, e foi sufocada, evidenciando a necessidade de uma mudança de atitude frente a colônia. Diante do agravamento dos problemas mentais da rainha e de sua consequente impossibilidade de reger o Império português, d. João tornou-se príncipe regente de Portugal e seus domínios em 1792, obtendo o título de d. João VI com a morte da sua mãe no Brasil em 1816, quando termina oficialmente o reinado mariano.
[9] País situado na Península Ibérica, localizada na Europa meridional, cuja capital é Lisboa. Sua designação originou-se de uma unidade administrativa do reino de Leão, o condado Portucalense, cujo nome foi herança da povoação romana que ali existiu, chamada Portucale (atual cidade do Porto). Compreendido entre o Minho e o Tejo, o Condado Portucalense, sob o governo de d. Afonso Henriques, deu início às lutas contra os mouros (vindos da África no século VIII), das quais resultou a fundação do reino de Portugal no século XIII. Tornou-se o primeiro reino a constituir-se como Estado Nacional após a Revolução de Avis em 1385. A centralização política foi um dos fatores que levaram o reino a ser o precursor da expansão marítima e comercial europeia, constituindo vasto império com possessões na África, nas Américas e nas Índias ao longo dos séculos XV e XVI. Os séculos seguintes à expansão foram interpretados na perspectiva da Ilustração e por parte da historiografia contemporânea como uma lacuna na trajetória portuguesa, um desvio em relação ao impulso das navegações e dos Descobrimentos e que sobretudo distanciou os portugueses da Revolução Científica. Era o “reino cadaveroso”, dominado pelos jesuítas, pela censura às ideias científicas, pelo ensino da Escolástica. Para outros autores tratou-se de uma outra via alternativa, a via ibérica, sem a conotação do “atraso”. O século XVII é o da união das coroas de Portugal e Espanha, período que iniciado ainda em 1580 se estendeu até 1640 com a restauração e a subida ao trono de d. João IV. Do ponto de vista da entrada de novas ideias no reino deve-se ver que independente da perspectiva adotada há um processo, uma transição, que conta a partir da segunda metade do XVII com a influência dos chamados “estrangeirados” sob d. João V, alterando em parte o cenário intelectual e mesmo institucional luso. Um momento chave para a história portuguesa é inaugurado com a subida ao trono de d. José I e o início do programa de reformas encetado por seu ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal. Com consequências reconhecidas a longo prazo, no reino e em seus domínios, como se verá na América portuguesa, é importante admitir os limites dessa política, como adverte Francisco Falcon para quem “por mais importantes que tenham sido, e isso ir-se-ia tornar mais claro a médio e longo prazo, as reformas de todos os tipos que formam um conjunto dessa prática ilustrada não queriam de fato demolir ou subverter o edifício social” (A época pombalina, 1991, p. 489). O reinado de d. Maria I a despeito de ser conhecido como “a viradeira”, pelo recrudescimento do poder religioso e repressivo compreende a fundação da Academia Real de Ciências de Lisboa, o empreendimento das viagens filosóficas no reino e seus domínios, e assiste a fermentação de projetos sediciosos no Brasil, além da formação de um projeto luso-brasileiro que seria conduzido por personagens como o conde de Linhares, d. Rodrigo de Souza Coutinho. O impacto das ideias iluministas no mundo luso-brasileiro reverberava ainda os acontecimentos políticos na Europa, sobretudo na França que alarmava as monarquias do continente com as notícias da Revolução e suas etapas. Ante a ameaça de invasão francesa, decorrente das guerras napoleônicas e face à sua posição de fragilidade no continente, em que se reconhece sua subordinação à Grã-Bretanha, a família real transfere-se com a Corte para o Brasil, estabelecendo a sede do império ultramarino português na cidade do Rio de Janeiro a partir de 1808. A década de 1820 tem início com o questionamento da monarquia absolutista em Portugal, num movimento de caráter liberal que ficou conhecido como Revolução do Porto. A exemplo do que ocorrera a outras monarquias europeias, as Cortes portuguesas reunidas propõem a limitação do poder real, mediante uma constituição. Diante da ameaça ao trono, d. João VI retorna a Portugal, jurando a Constituição em fevereiro de 1821, deixando seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, d. Pedro proclamou a independência do Brasil, perdendo Portugal, sua mais importante colônia.
[10] A Intendência de Polícia foi uma instituição criada pelo príncipe regente d. João, através do alvará de 10 de maio de 1808, nos moldes da Intendência Geral da Polícia de Lisboa. A competência jurisdicional da colônia foi delegada a este órgão, concentrando suas atividades no Rio de Janeiro, sendo responsável pela manutenção da ordem, o cumprimento das leis, pela punição das infrações, além de administrar as obras públicas e organizar um aparato policial eficiente e capaz de prevenir as ações consideradas perniciosas e subversivas. Na prática, entretanto, a Polícia da Corte esteve também ligada a outras funções cotidianas da municipalidade, atuando na limpeza, pavimentação e conservação de ruas e caminhos; na dragagem de pântanos; na poda de árvores; aterros; na construção de chafarizes, entre outros. Teve uma atuação muito ampla, abrangendo desde a segurança pública até as questões sanitárias, incluindo a resolução de problemas pessoais, relacionados a conflitos conjugais e familiares como mediadora de brigas de família e de vizinhos, entre outras atribuições. O aumento drástico da população na cidade do Rio de Janeiro, e consequentemente, da população africana circulando nas ruas da cidade a partir de 1808, esteve no centro das preocupações das autoridades portuguesas, e nela reside uma das principais motivações para a estruturação da Intendência de Polícia que, ao contrário do que vinha ocorrendo no Velho Mundo, deu continuidade aos castigos corporais junto a uma parcela específica da população. Foi a estrutura básica da atividade policial no Brasil na primeira metade do século XIX, e apresentava um caráter também político, uma vez que vigiava de perto as classes populares e seu comportamento, com ou sem conotação ostensiva de criminalidade. Um dos traços mais marcantes da manutenção desta ordem política, sobreposta ao combate ao crime, se expressa em sua atuação junto à população negra – especialmente a cativa – responsabilizando-se inclusive pela aplicação de castigos físicos por solicitação dos senhores, mediante pagamento. O primeiro Intendente de Polícia da Corte foi Paulo Fernandes Vianna, que ocupou o cargo de 1808 até 1821, período em que organizou a instituição. Subordinava-se diretamente a d. João VI, e a ele prestava contas através dos ministros. Durante o período em que esteve no cargo, percebe-se que muitas funções exercidas pela Intendência ultrapassavam sua alçada, em especial àquelas relacionadas à ordem na cidade e às despesas públicas, por vezes ocasionando conflitos com o Senado da Câmara. Desde a sua criação, a Intendência manteve uma correspondência regular com as capitanias, criando ainda o registro de estrangeiros.
[11] Provavelmente refere-se ao vinho que o intendente estaria supostamente tomando, podendo referir-se a um tipo de vinho bastante popular em Portugal, o vinho verde, ou seja, um vinho que não passa por processo de envelhecimento, ou pode estar se referindo ao vinho como produto “molhado” ou verde, portanto, perecível. Os produtos molhados por excelência eram o vinho, o azeite, a carne verde (ou seja, fresca e não salgada) e derivados do leite.
[12] Neste contexto é o mesmo que estalagem, uma pousada. Nota-se apenas que a casa de pouso poderia se referir a uma casa de moradia de particular que servia de pouso (repouso) a viajantes, ou a que estes recorressem caso não tivessem um lugar para pousar por uma noite, não sendo necessariamente um negócio.
[13] Presente em quase todos os exércitos do mundo, o posto de alferes designou originalmente aquele que levava o estandarte militar. Existiu no Brasil até 1905 e corresponde, atualmente, a patente de segundo-tenente ou subtenente. Na estrutura militar portuguesa transposta para a América e dividida em três forças, encontra-se sempre o alferes, oficial de baixa patente acima dos sargentos, ao qual pardos e mulatos aspiraram ser aceitos no período colonial. O posto se notabilizou na história brasileira graças à participação na Conjuração Mineira de Joaquim José da Silva Xavier conhecido como Tiradentes.
[14] Campo de Santana, Campo da Cidade, Jardim da Aclamação, Praça da República, foram diversos os nomes recebidos por essa região do Rio de Janeiro, próxima à atual estação Estrada de Ferro Central do Brasil, que delimita o centro da cidade a Oeste. Bem como foram diversos também os usos dados à região: no século XVII, parte do grande Mangal de São Diogo, como era conhecido o terreno alagado, fora dos limites da cidade, que iam até a antiga rua da Vala (atual Uruguaiana), era usado para despejo de lixo e dejetos dos habitantes; ao longo do XVIII conheceu os primeiros aterramentos, à medida que a cidade crescia naquela direção e ainda era um descampado, frequentado por livres e pobres, por escravos, e por irmandades religiosas. Foi usado como jardim de aclimatação de plantas exóticas à flora brasileira e como pasto de bois – as primeiras amoreiras introduzidas no Rio para a criação do bicho da seda foram plantadas no campo de Santana, e comidas pelos bois que lá pastavam. Foi no início do século XIX que o Campo ganhou ares de parque, principalmente depois da Aclamação de d. Pedro I, que lá aconteceu com mobiliário e arquitetura provisórios, desenhados por Jean-Baptiste Debret e construídos para a ocasião. Já com algumas igrejas no entorno, a região era palco da festa de Santana, da grande festa do Divino Espírito Santo, e dos santos, atraindo multidões até hoje no dia de São Jorge (23 de abril). Na década de 1870, d. Pedro II contratou o renomado paisagista francês Auguste Glaziou para reformular o Campo nos moldes de um jardim inglês – desenho que até hoje conserva – com a construção de cascatas, lagos, grutas e até pedras artificiais, inaugurado pelo imperador em 1880. Foi testemunha anos depois da Proclamação da República, já que o marechal Deodoro da Fonseca, aclamado primeiro presidente, residia no entorno e a parada militar que marcou o advento da República deu-se no Campo. Teve seu tamanho bastante reduzido com a construção da avenida Presidente Vargas nos anos 1940, quando passou por um curioso caso de destombamento, para poder ser diminuído e substituído pela grande nova via. Reinaugurado, em 1945 recebeu a estátua em homenagem a Benjamim Constant, celebrando a República, que até hoje se encontra no centro do parque, que é uma ilha de verde no centro da grande metrópole.

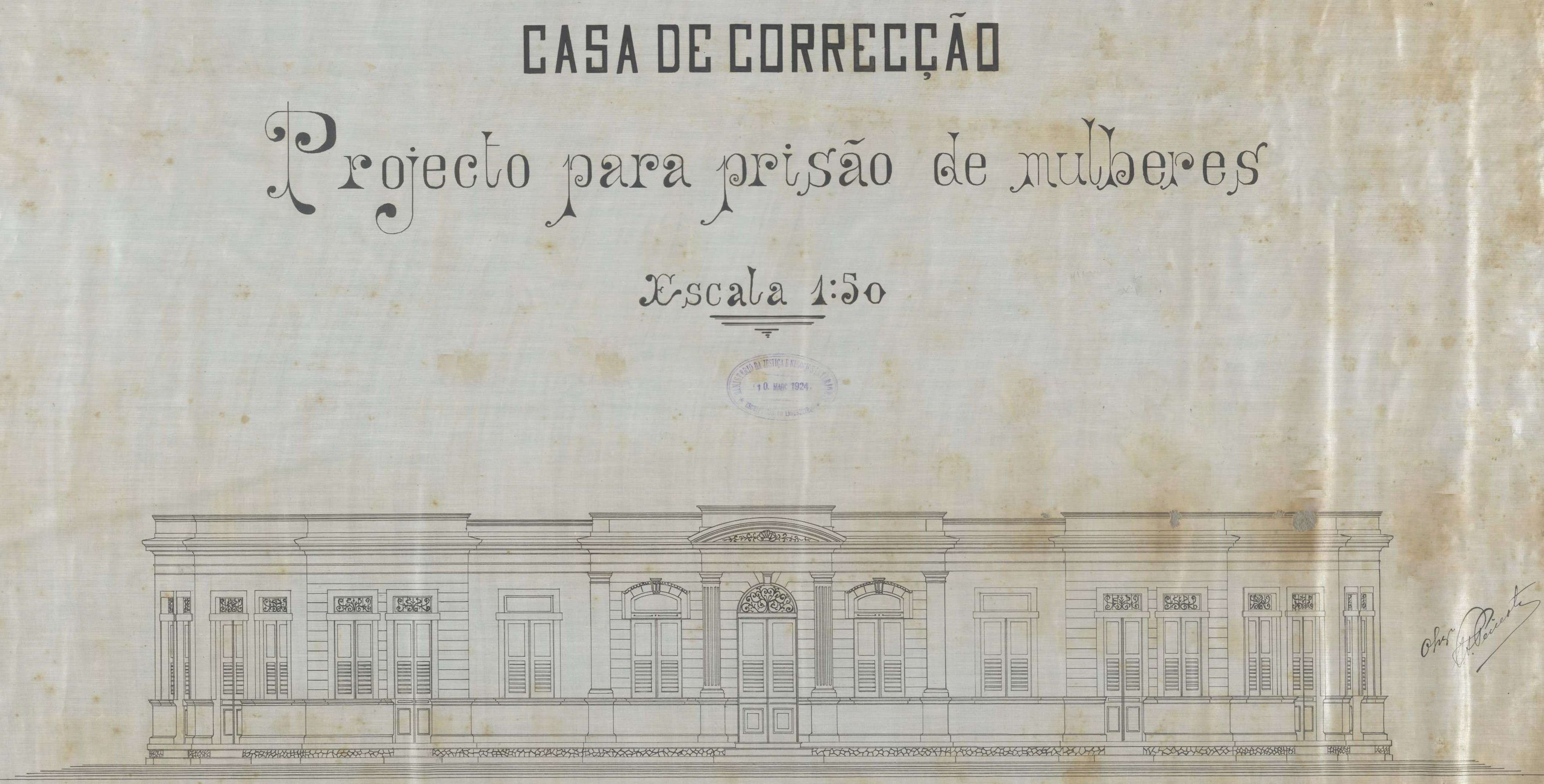
Redes Sociais